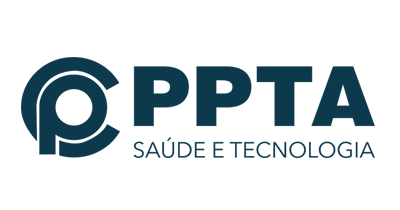A dona de casa carioca Alzira Fernandes de Andrade, de 73 anos, superou a fase mais aguda da osteoporose, doença caracterizada pela diminuição de massa óssea, que atinge dez milhões de brasileiros, quando já parecia condenada a andar de cadeira de rodas. O tratamento que ela seguia desde os 60 anos, logo que apareceram os primeiros sintomas, já não aliviava as dores na coluna e nas pernas. Sentar era difícil. Levantar, mais ainda. Por indicação do médico, Alzira procurou um dos 12 grupos de pesquisa sobre a doença do CCBR, centro de estudos ligado ao Synarc - Centro de Pesquisas Básicas e Clínicas de Copenhague, na Dinamarca, que testava um tratamento combinando vitamina D e cálcio em uma nova droga.
Toda semana, uma van a buscava em Bangu, na zona oeste do Rio, e a levava para a clínica em Botafogo, na zona sul. A pesquisa durou três anos, mas já se passaram outros três e Alzira continua recebendo a medicação. De seis em seis meses, volta ao CCBR para exames. "Eu já estava toda tortinha. Agora não sinto mais dor. Graças a Deus e ao remédio, não precisei da cadeira de rodas."
Alzira faz parte de um grupo pouco conhecido de brasileiros: os voluntários de pesquisas clínicas. Estima-se que, hoje, mais de um milhão de pessoas aceitam se submeter a novas formas de tratamento e tomam medicamentos ainda em testes, em busca de uma possível qualidade de vida que as terapias convencionais já não garantem. Na luta contra a osteoporose, mais de 5 mil voluntários participaram dos estudos do CCBR. Milhares também encaram com esperança as pesquisas sobre câncer, diabetes, insuficiência cardíaca, aids, mal de Alzheimer e outras doenças degenerativas nos mais de três mil estudos em andamento no Brasil, a cargo de quase mil centros de pesquisa.
Em alguns campos de estudo, como o do HIV, o país é líder na América Latina. Em outros, tem posição de destaque além das fronteiras regionais. No geral, ocupa lugar que destoa de sua importância econômica, a capacidade de seus médicos e a excelência de seus centros de pesquisa. Apenas 1% da pesquisa clínica mundial é realizada no país, proporção muito menor que a encontrada nos Estados Unidos (44,1%) e também abaixo do que se faz na Rússia (1,6%), Coreia do Sul (1,4%), China (1,4%) e Índia (1,2%). O prejuízo é triplo.
O Brasil se mantém distante de potências mundiais em pesquisas clínicas, como os Estados Unidos, onde há mais de 70 mil estudos em andamento, e não consegue sair de um déficit de US$ 12 bilhões na conta saúde da balança comercial (medicamentos e equipamentos médicos, basicamente). Enquanto isso, esvaem-se as esperanças de doentes em luta contra males ainda sem cura. São desafios que se podem associar à polêmica provocada pela recente invasão do Instituto Royal, no município de São Roque, em São Paulo, de onde um grupo de pessoas retirou 178 cães da raça beagle usados em testes de medicamentos, sob a alegação de que eram maltratados.
 Durante três anos, Alzira Fernandes de Andrade participou de pesquisa para desenvolvimento de medicamento contra osteoporose, que usa agora regularmente, com bom resultado
Durante três anos, Alzira Fernandes de Andrade participou de pesquisa para desenvolvimento de medicamento contra osteoporose, que usa agora regularmente, com bom resultado
"Pesquisas com animais são polêmicas em todo o mundo. Existem na Europa, nos Estados Unidos e aqui. É falta de comunicação entre os cientistas e a sociedade. O mais importante é que o Brasil anda para trás em pesquisa clínica. Na Coreia do Sul há um ingresso anual de US$ 4 bilhões para pesquisas, com previsão de chegar a US$ 20 bilhões em 2020. No Brasil não se tem números, mas não passa de US$ 200 milhões por ano", diz o consultor em pesquisas clínicas Eduardo Motti.
Na comparação com países como Rússia, Polônia ou até mesmo Coreia do Sul, diz Motti, há subaproveitamento da pesquisa clínica no Brasil. "O país tem um número razoável de centros clínicos e médicos, mas um número de estudos e instituições engajadas em pesquisas menor do que em outros países em desenvolvimento", afirma Fábio Thyers, presidente do VIS Institute Research, plataforma internacional de informação em pesquisa que põe o Brasil em 12º no mundo entre instituições que estudam o vírus da aids, com 56 centros, e em 11º lugar no total de projetos sobre a doença, com 198 trabalhos.
A estimativa de especialistas é que a pesquisa clínica movimente mais de US$ 50 bilhões por ano em todo o mundo. No Brasil, os investimentos dos laboratórios farmacêuticos multinacionais, "mecenas" internacionais do setor, não são precisos nem para as entidades que representam a indústria. O Ministério da Saúde investe pelo menos R$ 155 milhões por ano em quatro frentes: R$ 100 milhões, na organização da Rede Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC), que reúne 32 instituições; R$ 20 milhões, em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), na Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer; R$ 10 milhões, na Rede de Pesquisa em Acidente Vascular Cerebral; R$ 25 milhões, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na Rede de Pesquisa em Doenças Endócrinas e Metabólicas e em diversas pesquisas sobre anticorpos monoclonais, medicina regenerativa e terapias gênicas.
O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi) investe recursos em pesquisa clínica nos hospitais de excelência e outras instituições de pesquisa. "O país atrai ainda investimentos internacionais na área de pesquisa clínica. Essas iniciativas, desenvolvendo no país a pesquisa pré-clínica e clínica, acopladas à Política de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, visam dotar o país do conhecimento científico e tecnológico que permita diminuir o elevado déficit na balança comercial do setor saúde", diz a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde em email com respostas a perguntas formuladas pelo Valor.
"Há um viés ideológico na avaliação ética dos projetos, que alija o Brasil do circuito internacional das pesquisas clínicas"
"O dinheiro não é o pior gargalo da pesquisa clínica no Brasil. Antes, faltavam recursos. Agora, não", diz Hugo Caire, vice-diretor de pesquisa e desenvolvimento e inovação do Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio. O Instituto tem 71 laboratórios e uma equipe de 400 pesquisadores dedicados a estudos sobre doenças cardiovasculares e degenerativas, hepatite, dengue, influenza, hanseniase e mal de Chagas. "O problema é a baixa eficiência até para utilizar o dinheiro." Não é o único. A demora na aprovação, pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), dos protocolos que autorizam a realização dos testes em seres vivos também impacienta os pesquisadores brasileiros.
"O 'start' é importante para o desenvolvimento das pesquisas clínicas. O tempo de início dos protocolos [os estudos] é global. O atraso cria dificuldade para que o Brasil se conecte internacionalmente", afirma Fábio Thyers, do VIS Institute Research.
Pior: a Resolução 466, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em dezembro, depois de receber mais de 2 mil sugestões em audiência pública, conseguiu desagradar representantes da academia, dos laboratórios e até de entidades de apoio a doentes, pela timidez. A medida, que autoriza, pela primeira vez no país, o pagamento aos participantes de protocolos de pesquisa clínica de fase 1 (em que se analisa a segurança de determinada inovação) e para estudos de bioequivalência (que avaliam se um medicamento genérico tem a mesma eficácia de uma droga de marca), é considerada paliativa.
"A resolução não é resultado de um processo transparente, nem altera o mais importante, que é a demora na aprovação dos protocolos. Para os doentes de câncer, tempo é tudo. No Brasil, são registrados 520 mil novos casos, todo ano. Metade só descobre a doença já em estágio avançado, quando a sobrevida pode depender muito de uma nova droga ou de um novo tratamento", afirma Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia, portal do paciente de câncer.
 Silvana Berger integrou-se a um grupo de pessoas que, em vários países, recebiam remédio em fase experimental contra a artrite reumatoide: hoje, nada paga pelo medicamento e se sente muito melhor
Silvana Berger integrou-se a um grupo de pessoas que, em vários países, recebiam remédio em fase experimental contra a artrite reumatoide: hoje, nada paga pelo medicamento e se sente muito melhor
Foi a demora na aprovação de pesquisas sobre a doença no país, além do fato de ter recursos financeiros para buscar uma alternativa, que levou José Alencar, vice-presidente da República no governo Lula, a Houston, nos Estados Unidos, para participar de um estudo experimental para o tratamento do câncer. "Há um viés ideológico na avaliação ética dos projetos, que está alijando o país do circuito internacional das pesquisas", critica Vitor Harada, vice-presidente da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica (Abracro). "Como se laboratórios, centros de pesquisa e cientistas fossem vilões que quisessem abandonar os pacientes depois de testar novos medicamentos neles."
O cuidado se justifica. Alegadamente "em nome da ciência", cometeram-se atrocidades que não remontam apenas às experiências com judeus e pessoas com deficiência cognitiva nos campos de concentração do nazismo, onde se testava a resistência humana ao congelamento ou a venenos mortais. Nos anos 1970, cerca de 400 homens negros portadores de sífilis foram cobaias, no sentido literal da palavra, de pesquisadores americanos em Tuskegee, no Alabama.
Apesar de já contarem com a penicilina, descoberta 30 anos antes, os cientistas preferiram ver os homens padecerem no inferno da doença sem tratá-los, para conhecer melhor os sintomas do mal. A Declaração de Helsinque, conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa com seres humanos, elaborada pela Associação Médica Mundial em 1964, já estava em vigor havia pelo menos duas décadas quando dois cientistas americanos denunciaram que um grupo de mulheres contaminadas pelo HIV que havia participado de uma experiência com um antiviral em 15 países pobres, como Uganda e Tailândia, recebera apenas placebo, embora já se soubesse que a transmissão do vírus da aids caía de 25% para 2% com o uso da droga.
Se a falta de princípios éticos não se estendesse a outras espécies, não seria necessária a lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, conhecida como Lei Arouca, em homenagem ao sanitarista Sérgio Arouca (1941-2003), para estabelecer os critérios de criação e utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa. Muito menos haveria na lei a determinação ao Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea), criado por ela, para monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam a utilização de animais em ensino e pesquisa. Estudos com ratos, macacos, porcos e cachorros, afinal, não garantem respostas iguais quando aplicados ao homem. O caso mais emblemático é o da talidomida. A droga, desenvolvida nos anos 1950, foi testada em roedores sem qualquer efeito colateral, mas, aos ser receitada para combater o enjoo de mulheres grávidas, resultou em gerações de crianças com má-formação.
Só 1% da pesquisa clínica mundial é realizada no Brasil, dado que reflete parte do déficit da conta saúde na balança comercial
Assim como ocorreu com a talidomida, a indústria farmacêutica acumula gastos em pesquisas básicas com animais com resultados frustrantes. Muitas drogas que pareciam ter efeitos benéficos excepcionais no modelo animal da doença mostraram-se ineficazes quando aplicadas em humanos. Nove em cada dez drogas testadas em animais, de acordo com a Food and Drug Administration (FDA), a agência americana de alimentos e drogas, falhavam nos testes com seres humanos. Há evidências de que novos remédios para doenças como a tuberculose, que se manifesta de maneira totalmente diferente nas pessoas ou nos roedores, estejam parados há anos pela insistência em testá-los sempre em ratos e camundongos.
Ainda assim, a espécie continua a ser a preferida nas pesquisas com seres vivos. Na União Europeia, mais de 9 milhões de ratos, o equivalente a 77% de um total de 12 milhões de animais usados em pesquisas, foram testados, manipulados, infectados, diagnosticados, vacinados e submetidos a toda sorte de experimentos científicos em 2008. "Do ponto de vista ético, é injustificável o abuso de animais em experimentos científicos e acadêmicos. Existem métodos substitutivos mais eficientes. O que falta é vontade e respeito com a vida dos animais. A ciência acusa os ativistas de obscurantismo, mas é a ciência que usa argumentos emocionais, como se os ativistas preferissem os animais às pessoas, para vender o obscurantismo", diz Silvana Andrade, criadora da Agência de Notícias de Direitos Animais (Anda), que publica cerca de 45 reportagens por dia sobre animais e tem em média 35 mil acessos diários.
"A importação das pesquisas é um gargalo. A normatização de organismos geneticamente modificados é outro", afirma Hugo Caire, do Instituto Oswaldo Cruz. São embaraços burocráticos. Mas vários outros problemas freiam o desenvolvimento da pesquisa clínica no Brasil. "Um deles é o preconceito. Muita gente acha que a pesquisa transforma o paciente em cobaia."
A busca de alternativas ao uso de animais em pesquisas, como defendem os ativistas que ocuparam o Instituto Royal, esbarra em uma série de dificuldades - da importação de insumos para as análises à falta de protocolos de trabalho entre as instâncias de governo e as agências reguladoras, como a Anvisa, responsável pela aprovação de medicamentos e cosméticos. Embora a legislação tenha sido aprovada há cinco anos, somente no ano passado foi lançado o primeiro edital para o financiamento de pesquisa de métodos alternativos.
 Cães retirados por manifestantes de um laboratório em São Roque (SP) eram submetidos a supostos testes de cosméticos, prática já em desuso em outros países
Cães retirados por manifestantes de um laboratório em São Roque (SP) eram submetidos a supostos testes de cosméticos, prática já em desuso em outros países
A Universidade de São Paulo (USP) desenvolve um kit de pele artificial humana para uso em pesquisas clínicas em cosméticos, mas o que já existe à disposição no mercado é fornecido por laboratórios estrangeiros e só tem validade de sete dias - prazo insuficiente até para o preenchimento da papelada burocrática exigida para a importação. As maiores indústrias do mundo já não usam mais animais para testes de cosméticos. Mas o que vale para o setor de cosméticos não necessariamente serve para a medicina.
O número de pesquisas em território brasileiro não parou de aumentar desde que se aprovou a Lei de Patentes, em 1996, que garantiu o respeito à propriedade intelectual de medicamentos. De lá para cá, o Brasil acumulou conquistas importantes. Estudos clínicos que permitiram o desenvolvimento de medicamentos inovadores na área de oncologia, hipertensão e doenças ligadas ao sistema nervoso central, como depressão, esquizofrenia e mal de Alzheimer, tiveram a participação de pesquisadores e centros de pesquisa brasileiros.
"O país tem grande população, pesquisadores de padrão internacional, centros de excelência e custo relativamente baixo. É preciso haver um entendimento mais geral das possibilidades, dos problemas e dos caminhos para a pesquisa clínica no Brasil e trilhá-los, já. Mais um trem de oportunidades está à espera que embarquemos, mas o apito já soou e ainda estamos na plataforma", diz o consultor Eduardo Motti. "Os avanços são significativos. De forma importante, introduziu-se no sistema uma apreciação mais rápida, tanto na Conep quanto na Anvisa, para pesquisas de interesse do SUS", defende-se o Ministério da Saúde.
 Alegadamente "em nome da ciência", cometeram-se atrocidades como experiências com prisioneiros em campos de concentração nazistas
Alegadamente "em nome da ciência", cometeram-se atrocidades como experiências com prisioneiros em campos de concentração nazistas
Que o diga a professora pública paulista Silvana Berger, de 45 anos. No próximo mês, ela começa a receber pelo SUS o medicamento Orência, nome comercial do abatacepte, desenvolvido pelo laboratório multinacional Bristol-Myers-Squibb para o tratamento da artrite reumatoide, doença autoimune inflamatória e crônica que leva à deformidade e destruição das articulações em virtude da erosão da cartilagem e do osso, que atinge uma milhão de pessoas no Brasil.
Trata-se de uma conquista dupla. Primeiro, porque o tratamento com a droga injetável custaria mais de R$ 30 mil por ano, mas Silvana vai receber o remédio de graça. Depois, porque ela foi uma das voluntárias em pesquisa sobre o remédio realizada em vários países. Há seis anos, Silvana começou a participar de um estudo realizado no Centro Paulista de Investigação Clínica (Cepic), uma das instituições brasileiras que participaram da pesquisa internacional envolvendo outras 300 pessoas com o mesmo problema que ela tinha. Silvana sofria com inflamações e rigidez das articulações dos joelhos e mãos desde os 28 anos. Havia chegado a um ponto em que os anti-inflamatórios e a cortisona já não faziam efeito.
Todo sábado, durante três anos, Silvana foi de São Bernardo ao Hospital Heliópolis, no Ipiranga, na capital paulista, para receber a dose do medicamento. Com o tempo, conseguiu livrar-se da cortisona. O remédio foi registrado na Anvisa em 2008, mas Silvana ainda ficou outros três anos indo buscá-lo no Cepic depois de finalizar sua participação nos experimentos. Agora, passará a retirá-lo na farmácia do SUS. "Às vezes, ainda sinto alguma dor, mas é bem menos do que tinha antes. Esse remédio me devolveu a vida."
Obrigado por comentar!