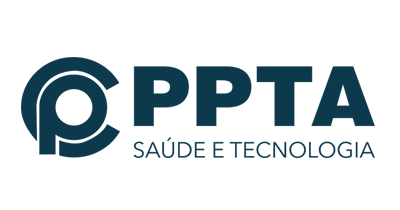Em 25 anos de história, completados em outubro deste ano, o Sistema Único de Saúde (SUS) está longe de observar os princípios que orientaram sua criação e seu funcionamento, conforme foi estabelecido na Constituição de 1988: ser universal, integral e igual.
Especialistas em saúde pública reconhecem limitações nas áreas de atendimento, gestão, financiamento e participação social, mas consideram o SUS o melhor modelo de saúde pública para o país. Para que um SUS melhor seja realidade, porém, recomendam mudanças, a começar pelas que aumentem a capacidade de investimento do sistema.
Para fazer o balanço do primeiro quarto de século de existência do SUS, o Valor realizou um debate entre o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, superintendente do Hospital Sírio-Libanês, o diretor-presidente do Instituto Performa, Bernard Couttolenc, e o professor Mário César Scheffer, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
"O maior problema é o subfinanciamento crônico. O SUS foi pilhado desde a origem, faz milagre com o pouco que tem. Países com sistemas universais, nos quais o SUS se inspirou, reservam, em média, 7% do PIB para a saúde pública. No Brasil, são 3,6%. Estamos numa encruzilhada", questiona Scheffer.
Especialista em economia da saúde, Couttolenc afirma que a oferta de serviços a 100% dos brasileiros é inviável. Uma saída para o SUS, diz ele, seria aprimorar a integração com a iniciativa privada, que investe mais em saúde que o setor público. "A promessa do SUS me parece inviável, política e economicamente. Ninguém conseguiu fazer isso. Nem Inglaterra nem Canadá, ninguém promete tudo de graça para todos. Isso passa pela discussão do papel relativo do setor privado no SUS. Não há recursos suficientes para dar conta de 200 milhões de pessoas."
Temporão é enfático ao discordar: "No Canadá ou na Inglaterra, todos os cidadãos são obrigados a passar pelo clínico geral do serviço público, do peão ao presidente. Temos que discutir qual modelo queremos. O que aconteceu para não termos o SUS que queremos? Desde o início, os setores do operariado, na retórica, apoiavam o SUS, mas na prática promoviam o plano de saúde privado por categoria no acordo coletivo de trabalho. Isso fragiliza a força política e estratégica do SUS até hoje."
Vecina lembrou que saúde foi uma das principais demandas projetadas nas manifestações de junho. Portanto, o SUS não teria outra saída, a não ser buscar a eficiência. "A sociedade brasileira nunca deu bola para eficiência, mas hoje ou a gente é mais eficiente ou não tem saída. Tem um conjunto de arranjos possíveis que temos que discutir", acrescentou o médico, referindo-se a parcerias com o setor privado e opções para elevar o investimento público no SUS.
A seguir, os principais trechos do debate.
Valor: Como se compara o atual SUS com a saúde pública antes de 1988? É possível enxergar uma evolução nesses 25 anos e fazer um balanço daquilo que não deu certo?
José Gomes Temporão: O SUS é um sucesso estrondoso. Sem ele, estaríamos numa situação de barbárie social, em que cada um teria a saúde que pudesse pagar no mercado. Os demais países olham o Brasil como a experiência mais interessante das últimas décadas. O SUS surgiu no contexto da luta política contra a ditadura. Havia um forte olhar para mudanças estruturais, que modificassem o padrão de saúde. A melhora nos indicadores de saúde são impressionantes: expectativa de vida ao nascer, mortalidade infantil, controle de doenças infectocontagiosas, redução da mortalidade de doenças crônicas. Na atenção à saúde individual, os resultados são heterogêneos. Houve coisas importantes, como o Programa Nacional de Imunização - é, disparado, o melhor do mundo. O Brasil é o país onde mais transplantes de órgãos são feitos, depois dos Estados Unidos. O SUS está fragilizado por questões macroestruturais, que foram se acumulando ao longo dessa trajetória. Chamaria a atenção para quatro ameaças: disputa político-ideológica, financiamento, a questão do modelo assistencial e gestão.
Gonzalo Vecina Neto: É importante olhar o passado. Parece que o SUS é uma ruptura, mas não é. O sistema de saúde está inserido no processo de urbanização e industrialização do Brasil. Na década de 1970, só as capitais tinham Secretaria Municipal de Saúde. No início dos anos 1980, 90% da população urbana tinham acesso à Previdência Social. Em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, surge a ideia do SUS, mas ele já estava em gestação. Não tem ruptura na construção do que a sociedade brasileira tem hoje; nem no setor privado, que nasce nos anos 1950 em torno do Iapi [Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários], que não conseguia dar atenção adequada aos operários.
Temporão: Antes do SUS, 90% da população urbana, que constituía 40% da população, tinham garantia de algum tipo de atenção. E os outros? Eram objeto de caridade e morriam à míngua. Era natural morrer sem assistência. Isso mudou radicalmente.
Bernard Couttolenc: O SUS representa um ponto de inflexão, embora seja fruto de um processo evolutivo, político. Não se pode comparar diretamente o SUS com a situação anterior. Em algumas áreas, houve uma revolução. Em outras, houve avanços. Há algumas em que se avançou muito pouco.
 Deficiências antigas se explicam pelo fato de o sistema ser constitucionalmente universal, mas com uma estrutura de gastos com predominância privada
Deficiências antigas se explicam pelo fato de o sistema ser constitucionalmente universal, mas com uma estrutura de gastos com predominância privada
Valor: Mas foi um "sucesso estrondoso"?
Couttolenc: Não diria isso. Um aspecto que o SUS revolucionou foi a lógica do sistema de saúde. Antes, não havia um sistema, mas uma coleção de subsistemas fragmentados. Hoje, temos um desenho claro e estruturado. Há um planejamento unificado em saúde pública. Mas um sistema que se quis único e universal não conseguiu ser isso. A parte privada ficou de fora e cresceu. Outro ponto de inflexão é a alocação de recursos. Antes do SUS, 90% dos recursos iam para atenção curativa, principalmente hospitalar. A partir dos anos 1990, priorizou-se a atenção primária. Isso se reflete nos indicadores de saúde. Na atenção secundária e terciária, as comparações são mais complexas. O Brasil era muito atrasado em indicadores de saúde, mas recuperou bastante terreno. É resultado do SUS? Não só. Junto com o SUS, houve uma série de mudanças importantes que afetam os indicadores de saúde. A redução das desigualdades sócioeconômicas, por exemplo. O nível de renda da população de baixa renda melhorou bastante. A melhoria no acesso à água e ao saneamento também seriam importantes.
Mário César Scheffer: O SUS é um projeto de inclusão. Se analisarmos a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) antes do SUS e hoje, mais que dobrou o acesso da população a serviços de saúde. Antes do SUS, as pessoas tinham acesso de acordo com sua capacidade de pagamento ou inserção no mercado de trabalho. Aos 25 anos, o SUS é um projeto viável. Só não podemos deixá-lo morrer por causas externas. É um projeto incompleto. Não foram dadas condições para efetivar o SUS constitucional, mas o SUS adquiriu uma base legal sólida e uma experiência técnica operacional enorme. O problema do SUS é a sustentabilidade política e financeira. Ele não se tornou uma política de Estado. O SUS tem problemas de gestão. Temos dificuldades de acesso e, quando o paciente acessa o serviço, não tem seu problema resolvido. Mas seu maior problema é o subfinanciamento crônico.
Valor: Nesses 25 anos, o SUS sofreu alguns "golpes", com prejuízo para seu financiamento.
Scheffer: Foi pilhado desde a origem. A Constituição diz que o SUS deveria ter 30% do orçamento da Seguridade Social. Se isso estivesse vigorando hoje, seriam R$ 195 bilhões. O orçamento federal do SUS está em R$ 84 bilhões. Perdemos a base de cálculo das contribuições sociais, da folha de pagamento, depois tivemos a extinção da CPMF, a criação da DRU [Desvinculação das Receitas da União]. O SUS faz milagre com o pouco que tem. Os países com sistemas universais, nos quais o SUS se inspirou, reservam, em média, 7% do PIB para a saúde pública; o Brasil investe 3,6%. Estamos numa encruzilhada. Não vislumbramos o SUS como sistema universal, como diz a Constituição. Mas também não podemos vislumbrar um sistema predominantemente privado como o chileno, o colombiano ou o americano, que são fracassos estrondosos. O alento está nas manifestações de rua de junho, pedindo serviços públicos de qualidade, principalmente serviços de saúde.
Couttolenc: Um ponto central é o financiamento. O SUS, legalmente, foi desenhado como um sistema que ofereceria tudo para todos de graça, e não houve condições políticas e econômicas para assegurar um financiamento compatível. Não conheço nenhum país em desenvolvimento, com o nível de renda do Brasil, cujo sistema de saúde consiga oferecer tudo para todos de graça.
Valor: O SUS deveria ser menos ambicioso?
Couttolenc: A promessa do SUS me parece inviável, política e economicamente. Ninguém conseguiu fazer isso. Nem a Inglaterra nem o Canadá, ninguém promete tudo de graça para todos. Isso passa pela discussão do papel relativo do setor privado dentro do SUS. Não há recursos suficientes para dar conta de 200 milhões de pessoas.
Scheffer: Temos um sistema peculiar. Constitucionalmente universal, mas uma estrutura de gastos com predominância privada. Temos pouco mais de 8% do PIB para saúde, mas 60% desses recursos são privados. Essa é a raiz da desigualdade e da dificuldade em efetivar a universalidade proposta pelo SUS. Não acho que devamos abdicar desses pilares. Temos é que conversar, inclusive em praça pública, sobre as contas da saúde.
Valor: O povo não percebe o SUS como um sucesso estrondoso. Se outros países se inspiram no Brasil, por que a população vê outra coisa?
Temporão: Como se dá o processo de construção da consciência em saúde coletiva na sociedade? Como a população avalia um sistema de saúde? Pelo contato diário, concreto. Discordo da ideia de que o SUS é inviável política e economicamente. Depende do sistema que se quer montar. Não temos uma porta de entrada única, como no Canadá ou na Inglaterra, em que todos os cidadãos são obrigados a passar pelo clínico geral. Temos que discutir que modelo queremos. O que aconteceu para não termos o SUS que queremos? Primeiro, financiamento. Segundo, desde o início, os setores do operariado, na retórica, apoiavam o SUS, mas na prática promoviam o plano de saúde privado por categoria no acordo coletivo de trabalho. Isso fragiliza a força política e estratégica do SUS até hoje.
Couttolenc: Quando digo que tem um conflito entre a promessa do SUS e o volume de recursos necessário e quando também falo de viabilidade econômica, não estou questionando a existência do SUS. Ele precisa ser adaptado em várias questões. Não faz sentido, por exemplo, ter o SUS e o sistema privado completamente separados. E tem o chamado racionamento. Qualquer país na área de saúde raciona o acesso a serviços.
Scheffer: Aí perde-se o teor de integralidade.
Couttolenc: Dá para garantir integralidade apesar disso. Em todos os sistemas existe algum racionamento. Ou de maneira clara, com regras explícitas, ou por omissão. Quem pode, pode. O exemplo mais truculento é o sistema americano. Países europeus e o Canadá racionam atendimento em função de um critério de custo e efetividade.
Temporão: A diferença desses países para o Brasil é que lá a racionalidade vale para todos, sem exceção. Do presidente ao operário.
Couttolenc: É a vantagem dos critérios objetivos. A sociedade brasileira ainda não discutiu isso. Temos uma promessa generosa, mas a sociedade, digamos assim, não concorda em bancar o custo do que quer receber. O descompasso precisa ser resolvido.
Temporão vê quatro focos de fragilização do SUS: disputa político-ideológica, financiamento, modelo assistencial e administração
Scheffer: A relação público-privado é mal resolvida. O sistema de saúde brasileiro nunca será puro público ou puro privado. Sempre teremos que trabalhar com essa sobreposição de lógicas. A agenda reformista do movimento sanitário emplacou a saúde como direito na Constituição, mas a Constituinte foi confrontada com os interesses do setor privado. Sempre teremos que trabalhar com essa dualidade, mas, ao longo do tempo, há uma contradição nas dificuldades impostas ao SUS universal pelas políticas cumulativas de privatização da saúde pública.
Valor: O gasto das famílias com saúde, ao longo desses 25 anos, aumentou muito. O SUS universaliza vários serviços, mas, mesmo assim, as famílias estão gastando mais.
Scheffer: Com 70% da rede hospitalar privada, o SUS depende de prestação e financiamento privados. Com duas novidades recentes: a privatização galopante da gestão, com a presença das OSs [organizações sociais] nos postos de saúde e hospitais públicos, por exemplo, que contribuem para afastar o SUS de seu projeto original, e o crescimento do mercado de planos de saúde. Há dois projetos claros em disputa: um é o projeto do movimento sanitário, o original, que significaria mais recursos públicos para o SUS e regulação do setor privado; o outro é o crescimento artificial dos planos de saúde, com planos baratos no preço e medíocres na cobertura.
Couttolenc: Mudaram as expectativas da população. Se a população critica o atendimento, em parte não é por que o SUS piorou as coisas. É por que as expectativas aumentaram mais do que aquilo que o SUS conseguiu oferecer. Aumentou a renda, aumentou a educação, as pessoas querem mais do que só ser atendidas. Antes, ser atendido era central. Isso é um sinal de sucesso. Outra coisa é que o setor privado não é necessariamente melhor que o SUS. O setor privado é uma catástrofe. Plano de saúde é uma droga. Temos que batalhar por um melhor desenho de integração dos sistemas.
Vecina: Toda ação é derivada de um sonho. E sonhamos fora da realidade, em outro espaço. Se a gente só sonhasse na realidade, continuaria reproduzindo as coisa eternamente. O sonho do SUS busca construir uma nova realidade. Qual é a solução? De onde vem o dinheiro? Não tem solução nem de onde vem o dinheiro. Tem arranjos que foram socialmente construídos e que precisam continuar sendo construídos. O SUS é fruto disso..
Valor: A iniciativa privada se apoia muito na estrutura da saúde pública?
Vecina: A relação do Estado com o setor privado é promíscua. O capital tem envolvimento importante na determinação da vida política. A sociedade brasileira nunca deu bola para eficiência, mas hoje, com mais comensais à mesa, ou a gente é mais eficiente, ou não tem saída. Tem um conjunto de arranjos possíveis que temos que discutir.
Scheffer: Há um compartilhamento de serviços, um livre trânsito de profissionais e pacientes entre um sistema e outro. Cerca de 60% dos médicos trabalham ao mesmo tempo no público e no privado. São 50 milhões de brasileiros com planos de saúde, mas que usam o SUS constantemente pelas inúmeras exclusões de cobertura, mas também por aquilo que só o SUS oferece. Precisamos refazer as contas em praça pública. A população precisa ser convidada a participar do debate das deduções tributárias, das isenções e dos benefícios fiscais que o setor público dá ao privado. O fundo público sustenta em grande parte o mercado privado. Apesar de o ressarcimento ser previsto em lei, o SUS não recebe toda vez que um cliente de plano de saúde particular é atendido em hospital público. Há muito recursos públicos em favor do setor privado. Estamos chegando ao ponto de o SUS ser uma espécie de resseguro, um sistema compensatório do setor privado.
 O programa Mais Médicos, resposta imediata do governo às demandas projetadas nas manifestações, continua sendo uma questão conflituosa
O programa Mais Médicos, resposta imediata do governo às demandas projetadas nas manifestações, continua sendo uma questão conflituosa
Valor: Alguém já conseguiu mapear quanto recurso público está no privado?
Temporão: Muito. O sistema de saúde brasileiro sempre foi uma mistura de público e privado. Nesses 25 anos, a oferta pública ambulatorial cresceu estupidamente, mas a oferta de leitos hospitalares continua mais da metade na mão do setor privado. O privado a serviço do universal é possível. A questão do trabalho médico é central nessa promiscuidade. A Constituição garante que o médico possa ter dois empregos públicos em entes distintos da federação e pode ter uma atividade privada. Ao se formar, o médico deveria ter de optar entre o público, em que teria de ser bem remunerado, claro, e o privado. Os médicos não querem nem ouvir falar nisso. Querem trabalhar 20 horas e dar muitos plantões, ter muitos vínculos. Surgem muitos conflitos de interesses. Na gestão, defendo um modelo público de fundação estatal regida pelo direito privado. O que é isso? Os funcionários vão ser contratados pela CLT [Consolidação das Leis do Trabalho] como qualquer trabalhador brasileiro.
Valor: O ponto é o Estado ter autonomia para contratar e demitir quando precisar?
Vecina: Veja o que aconteceu com a rede hospitalar do Rio de Janeiro: onde João Figueiredo [presidente da república entre 1979 e 1985] foi se tratar?
Temporão: No Hospital dos Servidores do Estado.
Vecina: Hoje, onde os políticos se tratam? O que aconteceu com o Hospital dos Servidores? Também no Rio de Janeiro, o que aconteceu com o Inca [Instituto Nacional de Câncer]? E a Fiocruz? Esses têm fundações privadas de apoio. A fundação é o órgão de apoio contra o qual se insurge o Ministério Público, porque é uma solução jurídica esdrúxula. É uma fundação chamada de terceiro tipo. É privada com objetivo de administração pública.
Valor: Isso ocorre porque a gestão pública é engessada, não?
Scheffer: Talvez o cenário seja uma competição de várias modalidades. Não me parece adequada a epidemia de organizações sociais. A cidade de São Paulo foi esquartejada entre 11 organizações sociais. Elas competem por recursos humanos predatoriamente, cada uma com uma forma de remuneração, um maneira de gerir o serviço. Abdicamos de ter parâmetros homogêneos e padronizados na saúde sem resolver o problema.
Vecina: Mas quem dita a política é o Estado, que tem o poder regulador. O problema é o Estado não ser capaz de ditar a política de gestão.
Couttolenc: Embora o Brasil tenha uma coleção razoável de experiências e modelos, não construiu duas coisas: um consenso sobre o que funciona melhor e o que não funciona, e um consenso para evoluir para um determinado modelo. É preciso uma reforma de fundo do papel e do funcionamento do Estado, da modalidade de gestão pública.
Temporão: O Inca é uma entidade de referência em câncer. Se um neurocirurgião do Inca se aposenta, é preciso contratar outro. Como funciona? O Inca manda o pedido para o Ministério da Saúde. Isso leva seis meses. Vai para o Ministério do Planejamento e leva mais um ano e meio. Depois, faz um concurso público, que leva mais seis meses. São dois anos e meio sem o cirurgião. O que o Inca fazia? A fundação contratava. O modelo em que o diretor de um instituto gasta dois anos para substituir um profissional está morto.
Valor: Por que é difícil mudar isso? É corporativismo de trabalhadores ou o governo resiste?
Vecina: Concepção do Estado.
Couttolenc: O modelo da administração direta não funciona e temos uma série de experiências interessantes que deveriam ser aproveitadas, mas não se criou um consenso sobre a direção a seguir. Também não se criou uma filosofia e mecanismos para avaliar objetivamente o que é feito.
Valor: E os conselhos de saúde, que papel exercem nesse emaranhado de polêmicas?
Vecina: Foram tomados pelas corporações. O controle social é um dos pontos de clivagem fundamentais da construção do SUS. Mas o Conselho Nacional de Saúde e a maioria dos conselhos municipais foram tomados pelas corporações. Seja de profissionais, seja de representantes de doenças...
Scheffer: O Conselho Nacional de Saúde foi totalmente cooptado pelo Ministério da Saúde.
Couttolenc: Tem gente tentando inovar, propondo modelos alternativos. Há também um movimento forte contrário a qualquer modelo alternativo. O meio-de-campo do que precisamos e podemos fazer é uma bagunça.
"O Brasil não construiu consenso sobre o que funciona e não funciona e para evoluir para um certo modelo de gestão", diz Couttolenc
Vecina: Sobre o financiamento, existem diversos arranjos e um país deste tamanho não tem como ter um só. O Hospital Federal de Clínicas de Porto Alegre é uma empresa pública. A rede Sarah Kubitschek é um serviço social autônomo. Tem as fundações de apoio. A PPP [parceria público-privada] do Hospital do Subúrbio de Salvador está indo muito bem. O que faz a diferença? A capacidade regulatória do Estado. O que é gestão? A capacidade de mobilizar recursos para atingir objetivos. Comprar coisas e contratar pessoas. Quando é o caso, demiti-las. Temos que rever a estabilidade.
Scheffer: Mas também não se mantém um sistema de saúde com contratos precários.
Vecina: A realidade do mercado é essa. Não tem como contratar todo mundo por CLT.
Valor: O Ministério do Trabalho não fiscaliza?
Vecina: Fiscaliza, mas não tem saída. O mercado funciona assim.
Couttolenc: O que não quer dizer que esses arranjos sejam os melhores possíveis.
Scheffer: São os piores possíveis.
Vecina: É o mercado. Como ignorar que a realidade anda desse jeito?
Valor: A discussão sempre volta para o financiamento. O melhor seria melhorar o modelo que existe ou financiar algo menos ambicioso?
Temporão: Seja qual for o modelo, só aceito se for para todos. Da presidente até o peão. A Inglaterra gasta 8% do PIB com saúde e os EUA, 17%. Comparando os indicadores, os americanos ficam muito atrás: são 50 milhões sem cobertura. Um ponto é a relação entre gasto público e privado. As famílias que têm plano gastam um per capita bem maior que o do SUS, que oferece muito mais porque vai da prevenção até o tratamento de doenças crônicas. E tem o gasto tributário, renúncias e subsídios. Em 2011, o total desse gasto foi de R$ 16 bilhões, 24% do total do gasto federal em saúde. O gasto tributário é elemento de indução da política fiscal, mas não tem critério. Mais da metade da renúncia beneficia famílias de mais alta renda. O Estado tira do SUS R$ 16 bilhões e põe no mercado.
Scheffer: Foi um movimento simultâneo: o desfinanciamento do SUS e os aportes públicos para o setor privado de saúde. E o mercado quer mais. Em março, as maiores seguradoras foram bater na porta da Presidência em Brasília para pedir mais isenções.
Temporão: Querendo desenvolver produtos simplificados para a nova classe média.
Scheffer: Planos de saúde pobres para pobres. Olha onde podemos parar.
Temporão: Outro ponto do financiamento é o absurdo de dizer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas subsidiar plano de saúde de funcionários públicos. Isso, sem entrar nos gastos com saúde dos senadores, assistência médica para a família inteira, sem um valor de teto, sem critério.
Scheffer: Fora a cobertura que o SUS garante em função das exclusões dos planos de saúde. Isso é incalculável e tem a ver com a leniência da ANS [Agência Nacional de Saúde Suplementar]. Ela foi capturada pelo mercado que deveria regular. É um mercado com sérios problemas de cobertura, rede insuficiente, reajustes abusivos.
Couttolenc: Subsídios em si não são o problema. A questão é: qual é o objetivo? Contribuem para o fortalecimento do sistema? Para preencher lacunas do sistema público? Hoje, não tem critério. É contraproducente.
Temporão: O ideal seria que esses gastos tivessem um foco. Na alta complexidade, na atenção primária. Resolver gargalos.
Valor: Fala-se muito nessa agenda, do público versus privado, mas sem unidade. Como fazer esse debate ficar mais profícuo?
Temporão: Caímos na armadilha de opor melhor gestão e mais dinheiro. Esforços de melhoria de gestão são uma obrigação de qualquer governo, em qualquer época. E tem gente que diz que o dinheiro é suficiente, basta gastar melhor. Isso não é verdade.
Scheffer: Mesmo a demanda atual de destinar 10% da receita corrente da União para a saúde não daria R$ 190 bilhões em seis anos. Passaríamos apenas de 3,6% para 4,5% do PIB em recursos públicos. É muito pouco.
Couttolenc: A questão do financiamento não vai avançar se ficar limitada a mais dinheiro para o SUS. Tem que rediscutir o papel do público e do privado, como alavancar o dinheiro do privado para contribuir no sistema como um todo. O Brasil gasta 9% do PIB em saúde. É muito num país em desenvolvimento. O que acontece com esse dinheiro? O que a sociedade quer do sistema de saúde? Quanto custa isso?
Scheffer: Só não pode cair na armadilha de dizer que dinheiro não é problema. A estrutura de gastos predominantemente privados está na raiz da estrutura de castas na nossa saúde. Todos os sistemas universais têm mais de 70% de gastos públicos. Aqui são 40%. Não é possível, sem mais recursos públicos e novas fontes de recursos, chegar a um sistema de saúde universal.
Valor: As manifestações de junho cobraram claramente melhorias nos serviços públicos de saúde. Qual é o espaço para discutir o que a população quer do sistema de saúde?
Scheffer: Na Olimpíada de Londres, o Sistema Nacional de Saúde britânico fez parte da abertura. Isso mostra o orgulho que eles têm. Ninguém está satisfeito com a saúde no Brasil: nem quem depende do SUS nem quem usa o setor privado. A sociedade tem que entender o que está acontecendo e decidir que sistema de saúde quer. Não vislumbramos o SUS como foi idealizado há 25 anos, mas um sistema predominantemente privado não é solução.
Temporão: Nos países inseridos no modelo de bem-estar social, o sistema surge de um processo de maturação da democracia: querem um sistema igual para todos. É parte da consciência coletiva britânica que o sistema de saúde seja um bem público de valor inestimável. Tem um profundo sentido de solidariedade nisso. Agora o povo está na rua pedindo saúde pública de qualidade. Não vi nenhum cartaz dizendo que quer mais plano de saúde.
Vecina: Estou cético quanto a isso. Não existe acumulação de conhecimento suficiente nem disposição da sociedade para caminhar nessa direção. As pessoas não têm a percepção do público. É uma evolução que teremos de atravessar na consolidação da democracia. O sistema inglês é solidário, mas foi criado em 1948, depois da guerra.
Scheffer: Há um pouco mais de consciência social. As ruas reivindicam algo diferente.
Valor: A resposta imediata do governo federal no plano da saúde simboliza o quê?
Scheffer: Nada. Foi uma resposta insuficiente e precária.
Valor: Nem o Mais Médicos foi suficiente? Ele foca uma insuficiência de recursos humanos. Talvez o sistema de saúde devesse olhar mais para a formação de profissionais.
Couttolenc: A questão básica não é a insuficiência de médicos, mas sua alocação. O Mais Médicos é uma estratégia emergencial.
Scheffer: É uma política focalizada e, como tal, tem seus méritos.
Vecina: E a estrutura à atenção básica? Aumentamos bastante o número de escolas médicas. Em 20 anos vamos fechar esse buraco. Mas falta médico no país. O tempo de considerar um médico para mil habitantes era o tempo da atenção vertical. Estamos vivendo uma carga de doenças que exigem atenção horizontal. Não é mais uma consulta sobre pneumonia, mas tratar hipertensão e diabetes para o resto da vida. Esse modelo consome a percepção de um médico para cada 300 habitantes.
Scheffer: O programa Mais Médicos tem o aspecto meritório de contratar médicos para locais onde eles faltam. É melhor que nada, mas não é uma resposta para o que estamos discutindo. Temos três níveis de desigualdade de distribuição de profissionais: regional, entre público e privado - só 60% dos médicos atuam no SUS, muito pouco para um sistema que se pretende universal. O terceiro nível é o de formação. Não temos profissionais formados para atender às reais necessidades de saúde da população, principalmente as necessidades da atenção primária.
"Os conselhos de saúde foram tomados pelas corporações, seja de profissionais, seja de representantes de doenças", observa Vecina Neto
Temporão: A responsabilidade do governo é: como levo médicos para atender às necessidades básicas? A Austrália tem dificuldade de colocação de médicos e tem uma política para isso. Mas é ingênuo acreditar que abrir uma faculdade de medicina no interior vai fixar os médicos ali. Precisa ter uma política diferenciada, com estímulos. Acho que deve haver um serviço civil obrigatório para alunos de universidade pública. Essa lei dorme no Congresso há décadas, ninguém quer mexer nisso.
Valor: O que a política pública de saúde precisa olhar nos próximos 25 anos do SUS?
Vecina: O que queremos? Um serviço de qualidade voltado para a carga de doenças que temos. Isso implica repensar o SUS. Como enfrentar essa carga de doenças? Precisa de muito mais intersetorialidade. Essas causas não se enfrentam com remédio e hospital, mas com maior capacidade de ação social.
Couttolenc: O SUS e o sistema como um todo, da forma como o serviço de saúde está organizado, não fazem frente ao desafio. O SUS herdou da história o desafio de, ao mesmo tempo, recuperar o tempo perdido - ainda temos crianças morrendo de diarreia - e o surgimento do perfil epidemiológico, que exige outra organização. O SUS foi bem-sucedido ao recuperar o atraso, ajudado pela transição demográfica, que implicou ter menos crianças para tratar.
Temporão: Uma série de transições vai impactar o sistema. As três principais são a demográfica, a epidemiológica e a alimentar. Estamos nos aproximando do padrão de diabetes tipo dois e hipertensão arterial dos EUA. Em 2030 vamos ter mais brasileiros acima de 60 anos do que entre 0 e 19 anos. As demências senis, distúrbios neuropsíquicos, depressão vão ser muito importantes.
Scheffer: Os pontos a repensar são: financiamento, gestão, política de recursos humanos e relação público-privado. Há uma descontinuidade, cada gestão cria uma marca, uma saída, uma nova porta de entrada no SUS. A gestão é fragmentada, dificultando a organização do sistema. Talvez tenhamos ido longe demais na municipalização. O SUS alcançou uma base legal, experiência técnica e operacional, mas tem um problema de sustentabilidade política e financeira. A participação da sociedade é fundamental.
Couttolenc: Tem muita ineficiência sistêmica que decorre da dualidade entre público e privado, com sobreposição, setores que não conversam entre si, médicos que pulam de um lado para o outro. Eu gostaria que evoluíssemos de discutir o SUS para discutir o sistema de saúde. O SUS pretende ser o sistema único, mas não é. Para mudar isso, não se trata de estatizar o privado, mas trazê-lo para dentro do desenho de um sistema único.
Vecina: Eu acrescentaria a participação do setor de saúde na produção de valor, pela ativação da indústria em torno da saúde. Equipamentos, medicamentos, prestação de serviços hoje geram mais de 8% do PIB e são um dos maiores empregadores do país.
Temporão: O modelo do complexo industrial da saúde no Brasil é inovador. Envolve o BNDES, o setor privado, laboratórios, o poder de compra do Estado como promotor da internacionalização da capacidade de produção. China e Índia são grandes "players" no mercado internacional de genéricos, mas a produção industrial e o setor de saúde não têm nenhuma relação. Suas populações não têm acesso aos genéricos que eles exportam. Estamos tentando fazer uma coisa diferente.
Scheffer: O Sistema Único de Saúde é o sonho de que as pessoas possam ter acesso à saúde de acordo com sua necessidade e capacidade de contribuição, não de pagamento. Acreditava-se que a classe média estava totalmente divorciada do SUS. Parece que não é bem assim. O que vamos fazer com nossa riqueza coletiva, se o Brasil está crescendo? Vamos investir no projeto de um sistema único, universal, de qualidade, ou vamos ficar no sistema estratificado, desigual, injusto? A saúde pública está na pauta como nunca.
Obrigado por comentar!