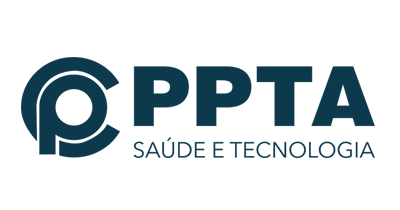Item de peso no orçamento das famílias, o plano de saúde tem sido alvo de ampla discussão no último ano em razão dos preços cobrados e da oferta de serviços aos usuários. No ano passado, os planos coletivos, cujo reajuste é decidido diretamente entre beneficiários e operadoras, tiveram alta de até 40%. Estes planos representam 80% do mercado e não são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Iniciativas diversas têm sido discutidas para resolver a disputa entre os argumentos das operadoras, que se queixam do aumento substancial de custos, e os dos usuários, que reclamam do peso no bolso num cenário de crise.
O ex-ministro da Saúde Ricardo Barros defendeu, no ano passado, a criação de um plano de saúde com cobertura restrita e preços mais baixos, os chamados “planos populares”, mas a proposta não vingou.
O debate atingiu tal ponto que uma decisão da Justiça este ano limitou os reajustes dos planos individuais a 5,72%, determinando usar como referência o índice de inflação de saúde no país, medido pelo IPCA. A medida durou pouco, e prevaleceu o percentual fixado pela ANS. Este ano, o teto foi de 10%.
A polêmica resultou na criação de um grupo de trabalho para discutir fórmulas de reajuste e mais transparência. A definição de regras para planos de coparticipação, nos quais o usuário arca com parte do valor dos procedimentos, como exames e consultas, foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF). Até este ano, não existia limite para o percentual com que o usuário poderia arcar.
A ANS criou uma regra que fixava o teto em 60% nos planos coletivos. Com a decisão do STF, a regra da agência foi suspensa, e o tema continua sem decisão. Para as empresas, o cerne do debate é a alta de custos.
Uma das alternativas em estudo para driblá-la seria mudar o modelo de atendimento, com foco na atenção primária. O paciente teria um médico de família, que o encaminharia a serviços especializados, se necessário. Nas propostas, há um ponto em comum entre usuários e operadoras: contas que não fecham.
Obrigado por comentar!