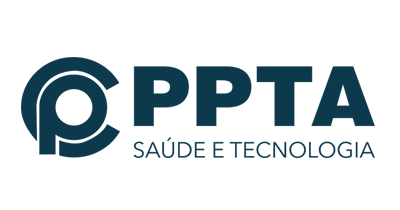Mortalidade por infecção generalizada dobra em hospitais públicos
08/10/2018
Um estudo inédito em 74 hospitais de todo o país mostra que a taxa de mortalidade de pacientes com sepse (infecção generalizada) nos prontos-socorros públicos é mais que o dobro da registrada nos privados (42,2% contra 17,7%).
Vários fatores podem explicar essa diferença, entre eles a demora do paciente em acessar o serviço de saúde, o diagnóstico tardio, o tratamento inadequado e a falta de leitos de UTI e de outros recursos.
A transferência do doente com sepse para a unidade de terapia intensiva nas primeiras 24 horas, por exemplo, está associada ao aumento das chances de sobrevida, mas o paciente do SUS enfrenta mais barreiras nesse acesso.
Segundo o estudo, essa recomendação é seguida com muito mais frequência em hospitais privados (42% contra 14,8% nos públicos).
Nos hospitais públicos, os pacientes permaneceram no pronto-socorro até a alta ou a morte em 38,5% das ocasiões, com taxa de mortalidade de 61,8%. Nos privados, apenas 6,2% dos doentes ficaram no PS até o desfecho do caso, com taxa de mortes de 37,5%.
Segundo o médico Luciano Azevedo, presidente do Ilas (Instituto Latino Americano de Sepse) e um dos autores do estudo, o fato de o paciente ficar no pronto-socorro enquanto aguarda um leito na UTI aumenta o seu risco de morte.
“O paciente chega ao PS com um infarto, um AVC ou um trauma e fica à espera de leito de UTI. Se ele tiver sepse, o risco de mortalidade é maior. No PS, ele não receberá o cuidado adequado que uma UTI proporciona”, diz Azevedo. Participaram do estudo 350 pacientes atendidos em 28 hospitais públicos e 46 privados.
Um dos gargalos do SUS, os leitos de UTI estão presentes em menos de 10% dos municípios brasileiros e há muita desigualdade, segundo levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina).
Ao todo, o país possui cerca de 41 mil leitos de UTI, sendo metade deles disponíveis para o SUS, e outra metade à saúde privada ou suplementar (planos de saúde), que só atende a 25% da população.
Também há disparidades regionais. O Sudeste concentra 53,4% (23.636) das UTIs de todo o país. Já o Norte tem a menor oferta, com apenas 5% (2.206) de todos os leitos.
Além da falta de leitos de terapia intensiva e dos cuidados que ela proporciona, as emergências públicas também tendem a ter uma estrutura mais deficiente do que as privadas. “Há escassez de recursos, são muitos pacientes para poucos profissionais”, afirma Azevedo.
Para o intensivista Álvaro Réa Neto, professor da Universidade Federal do Paraná e conselheiro da federação mundial das sociedades de medicina intensiva, a dificuldade de acesso aos serviços públicos é um outro fator que explica as disparidades dos desfechos.
“Os pacientes menos favorecidos chegam mais tarde aos hospitais, quando a doença já está mais evoluída. Assim como o infarto e o AVC [acidente vascular cerebral], a sepse é um doença muito sensível ao tempo”, explica.
Se não houver uma investigação rápida e um tratamento adequado da doença, os riscos também aumentam. Recomenda-se, por exemplo, a utilização de antibióticos nas três primeiras horas do diagnóstico da doença, mesmo antes da identificação do vírus, bactéria ou outro agente infeccioso.
O infectologista Marcos Boulos, professor da USP, estranha a disparidade das taxas de mortalidade entre os serviços públicos e privados apontada no estudo. “Tanto há hospitais públicos e privados muito bons quanto os muito ruins, que sofrem sobrecarga, falta de leitos de UTI. Não é compreensível essa diferença.”
No entanto, ele afirma que, nos últimos três anos, aumentou a falta de profissionais no SUS porque, com a crise econômica e o corte de recursos em saúde, quadros de pessoal não estão sendo repostos, o que pode já estar trazendo prejuízos à qualidade da assistência.
Segundo Azevedo, há também falta de capacitação de muitos médicos que trabalham nas emergências, que, diante de sintomas como febre, mal-estar e fraqueza, confundem a doença com gripe ou outra infecção viral.
Com amidalite, febre de quase 40 graus e calafrios, a técnica de enfermagem Maria Paula, 30, passou por três serviços de saúde em três dias até ter o diagnóstico correto de sepse.
Ela já estava usando antibiótico e mesmo assim a febre não cedia. Sentia-se fraca, com os batimentos cardíacos acelerados e a pressão arterial baixa.
Nos dois primeiros prontos-socorros, ninguém pediu exames. Ela chegou a dizer a um médico que suspeitava de sepse, mas ele não levou a sério: “Olhou a minha garganta e disse: ‘já tive amidalite pior que a sua. Dói mesmo, mas não tem o fazer.”
No terceiro, foram feitos exames de sangue e de imagem que detectaram a sepse e ela foi imediatamente internada. Hoje, um mês depois, ainda tem sequelas do problema e faz acompanhamento com o cardiologista.
“Poderia ter morrido por causa desse descaso”, diz ela.
O Brasil apresenta uma das maiores taxas de mortalidade por sepse no mundo. São 670 mil casos por ano, sendo que 50% acabam em morte, segundo o Ilas.
Em 2017, a OMS (Organização Mundial de Saúde) reconheceu a sepse como um problema de saúde mundial, com 31 milhões de casos por ano e mais de 6 milhões de mortes. Países-membros, entre eles o Brasil, foram instados a desenvolver melhorias de prevenção, diagnóstico e tratamento.
APÓS PERDER OS PÉS AOS 25 ANOS, VÍTIMA DE SEPSE VIRA ATLETA
Aos 25 anos, Adriele Silva acordou numa terça-feira com cólicas renais. Foi para o hospital e de lá saiu apenas com indicação de analgésicos. À tarde, as dores pioraram e ela voltou para a emergência.
Mesmo com exames de urina e de sangue apontando uma grave infecção, o médico preferiu aguardar o resultado de um ultrassom que só sairia no dia seguinte para prescrever antibiótico. “Houve uma negligência médica.”
No dia seguinte, Adriele apresentava insuficiência pulmonar, do fígado e dos rins. Já tinha desenvolvido um quadro de sepse.
Ao longo dos 64 dias em que ficou internada, 20 em coma induzido, sofreu duas paradas cardíacas e teve os pés e alguns dedos das mãos necrosados. Eles precisaram ser amputados.
“Durante minha internação, não tive muito essa coisa de ficar desesperada, de negação. Eu só me concentrava em ficar viva. Eu sabia que existiam próteses, então pensei em seguida: tudo bem. Sabia que o processo ia ser longo.”
Ficou cinco meses na cadeira de rodas e, depois, colocou as próteses. Procurou um esporte para ajudar na reabilitação. “Comecei com natação e atletismo, depois cheguei ao triatlo.”
Aos poucos, tornou-se atleta profissional. Em 2016, fez sua primeira prova internacional e conquistou a medalha de prata. Ano passado, foi a primeira mulher biamputada do mundo a disputar o Ironman. Não chegou a concluir a prova.
Vários fatores podem explicar essa diferença, entre eles a demora do paciente em acessar o serviço de saúde, o diagnóstico tardio, o tratamento inadequado e a falta de leitos de UTI e de outros recursos.
A transferência do doente com sepse para a unidade de terapia intensiva nas primeiras 24 horas, por exemplo, está associada ao aumento das chances de sobrevida, mas o paciente do SUS enfrenta mais barreiras nesse acesso.
Segundo o estudo, essa recomendação é seguida com muito mais frequência em hospitais privados (42% contra 14,8% nos públicos).
Nos hospitais públicos, os pacientes permaneceram no pronto-socorro até a alta ou a morte em 38,5% das ocasiões, com taxa de mortalidade de 61,8%. Nos privados, apenas 6,2% dos doentes ficaram no PS até o desfecho do caso, com taxa de mortes de 37,5%.
Segundo o médico Luciano Azevedo, presidente do Ilas (Instituto Latino Americano de Sepse) e um dos autores do estudo, o fato de o paciente ficar no pronto-socorro enquanto aguarda um leito na UTI aumenta o seu risco de morte.
“O paciente chega ao PS com um infarto, um AVC ou um trauma e fica à espera de leito de UTI. Se ele tiver sepse, o risco de mortalidade é maior. No PS, ele não receberá o cuidado adequado que uma UTI proporciona”, diz Azevedo. Participaram do estudo 350 pacientes atendidos em 28 hospitais públicos e 46 privados.
Um dos gargalos do SUS, os leitos de UTI estão presentes em menos de 10% dos municípios brasileiros e há muita desigualdade, segundo levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina).
Ao todo, o país possui cerca de 41 mil leitos de UTI, sendo metade deles disponíveis para o SUS, e outra metade à saúde privada ou suplementar (planos de saúde), que só atende a 25% da população.
Também há disparidades regionais. O Sudeste concentra 53,4% (23.636) das UTIs de todo o país. Já o Norte tem a menor oferta, com apenas 5% (2.206) de todos os leitos.
Além da falta de leitos de terapia intensiva e dos cuidados que ela proporciona, as emergências públicas também tendem a ter uma estrutura mais deficiente do que as privadas. “Há escassez de recursos, são muitos pacientes para poucos profissionais”, afirma Azevedo.
Para o intensivista Álvaro Réa Neto, professor da Universidade Federal do Paraná e conselheiro da federação mundial das sociedades de medicina intensiva, a dificuldade de acesso aos serviços públicos é um outro fator que explica as disparidades dos desfechos.
“Os pacientes menos favorecidos chegam mais tarde aos hospitais, quando a doença já está mais evoluída. Assim como o infarto e o AVC [acidente vascular cerebral], a sepse é um doença muito sensível ao tempo”, explica.
Se não houver uma investigação rápida e um tratamento adequado da doença, os riscos também aumentam. Recomenda-se, por exemplo, a utilização de antibióticos nas três primeiras horas do diagnóstico da doença, mesmo antes da identificação do vírus, bactéria ou outro agente infeccioso.
O infectologista Marcos Boulos, professor da USP, estranha a disparidade das taxas de mortalidade entre os serviços públicos e privados apontada no estudo. “Tanto há hospitais públicos e privados muito bons quanto os muito ruins, que sofrem sobrecarga, falta de leitos de UTI. Não é compreensível essa diferença.”
No entanto, ele afirma que, nos últimos três anos, aumentou a falta de profissionais no SUS porque, com a crise econômica e o corte de recursos em saúde, quadros de pessoal não estão sendo repostos, o que pode já estar trazendo prejuízos à qualidade da assistência.
Segundo Azevedo, há também falta de capacitação de muitos médicos que trabalham nas emergências, que, diante de sintomas como febre, mal-estar e fraqueza, confundem a doença com gripe ou outra infecção viral.
Com amidalite, febre de quase 40 graus e calafrios, a técnica de enfermagem Maria Paula, 30, passou por três serviços de saúde em três dias até ter o diagnóstico correto de sepse.
Ela já estava usando antibiótico e mesmo assim a febre não cedia. Sentia-se fraca, com os batimentos cardíacos acelerados e a pressão arterial baixa.
Nos dois primeiros prontos-socorros, ninguém pediu exames. Ela chegou a dizer a um médico que suspeitava de sepse, mas ele não levou a sério: “Olhou a minha garganta e disse: ‘já tive amidalite pior que a sua. Dói mesmo, mas não tem o fazer.”
No terceiro, foram feitos exames de sangue e de imagem que detectaram a sepse e ela foi imediatamente internada. Hoje, um mês depois, ainda tem sequelas do problema e faz acompanhamento com o cardiologista.
“Poderia ter morrido por causa desse descaso”, diz ela.
O Brasil apresenta uma das maiores taxas de mortalidade por sepse no mundo. São 670 mil casos por ano, sendo que 50% acabam em morte, segundo o Ilas.
Em 2017, a OMS (Organização Mundial de Saúde) reconheceu a sepse como um problema de saúde mundial, com 31 milhões de casos por ano e mais de 6 milhões de mortes. Países-membros, entre eles o Brasil, foram instados a desenvolver melhorias de prevenção, diagnóstico e tratamento.
APÓS PERDER OS PÉS AOS 25 ANOS, VÍTIMA DE SEPSE VIRA ATLETA
Aos 25 anos, Adriele Silva acordou numa terça-feira com cólicas renais. Foi para o hospital e de lá saiu apenas com indicação de analgésicos. À tarde, as dores pioraram e ela voltou para a emergência.
Mesmo com exames de urina e de sangue apontando uma grave infecção, o médico preferiu aguardar o resultado de um ultrassom que só sairia no dia seguinte para prescrever antibiótico. “Houve uma negligência médica.”
No dia seguinte, Adriele apresentava insuficiência pulmonar, do fígado e dos rins. Já tinha desenvolvido um quadro de sepse.
Ao longo dos 64 dias em que ficou internada, 20 em coma induzido, sofreu duas paradas cardíacas e teve os pés e alguns dedos das mãos necrosados. Eles precisaram ser amputados.
“Durante minha internação, não tive muito essa coisa de ficar desesperada, de negação. Eu só me concentrava em ficar viva. Eu sabia que existiam próteses, então pensei em seguida: tudo bem. Sabia que o processo ia ser longo.”
Ficou cinco meses na cadeira de rodas e, depois, colocou as próteses. Procurou um esporte para ajudar na reabilitação. “Comecei com natação e atletismo, depois cheguei ao triatlo.”
Aos poucos, tornou-se atleta profissional. Em 2016, fez sua primeira prova internacional e conquistou a medalha de prata. Ano passado, foi a primeira mulher biamputada do mundo a disputar o Ironman. Não chegou a concluir a prova.
Fonte: Folha de S. Paulo
Obrigado por comentar!
Erro!