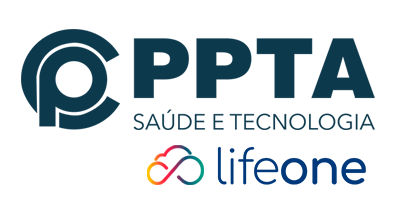Desde 2014, pelo menos 3 milhões de pessoas deixaram de ter planos de saúde por causa da crise econômica no País
03/09/2018
A saúde tem potencial para se transformar numa fonte de graves problemas e de desgaste para o próximo presidente. Por causa das mudanças nas regras de reajuste de gastos do governo federal, o orçamento da área foi reduzido e congelado no momento em que a pressão pelos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) aumenta. Desde 2014, pelo menos 3 milhões de pessoas deixaram de ter planos de saúde por causa da crise econômica. Sem assistência suplementar, esse grupo que pouco usava o SUS passou a depender dele.
“Será menos dinheiro para atender mais gente”, resume o presidente do Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, Leonardo Vilela. E aumento da demanda não deve ser efêmero. “Muitas das pessoas que saíram dos planos não querem ou não terão condições de voltar.” O dinheiro curto pode afetar ainda a capacidade de resposta, num momento em que a população envelhece, a pressão pela incorporação de novas tecnologias aumenta e que capacidade de planejamento se esgota.
“O aumento de custos é natural. Antes, quando alguém aparecia com dor de cabeça, o médico prescrevia analgésico. Hoje é encaminhado à tomografia. Muito câncer é curável. Mas tratá-los custa”, diz o professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Pelotas, Cesar Victora.
Média global de gastos
Vilela tem avaliação parecida. Ele lembra que, em 1997, a média global dos gastos em Saúde era de 8% do PIB mundial. Em 2017, alcançava 9,9%. “Os serviços em saúde são caros e crescentes em todo mundo.”
Por isso, Vilela classificou a nova regra de teto de gastos como “esdrúxula”. “Ela engessa os gastos, não leva em conta o crescimento populacional.”
A Emenda Constitucional 95 congela os recursos em termos reais a partir deste ano. O piso para o setor é calculado com base nos 15% da Receita Corrente Líquida de 2017, corrigido pelo IPCA. A regra vale até 2036.
Segundo Vilela, se a regra estivesse em vigor em 2003, o orçamento em Saúde em 2017 seria de R$ 50 bilhões. “Bem menos do que os R$ 120 bilhões que foram desembolsados.”
Quando a proposta ainda estava em discussão, um estudo feito pela especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Instituto de Pesquisas Aplicadas (Ipea), Fabíola Sulpino Vieira, já indicava que o setor perderia recursos se fosse comparado com a regra anterior e num cenário com crescimento do PIB. Quanto o maior o crescimento, maior seria a perda.
Por isso, o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, integrante da Academia Nacional Medicina, considera essencial acabar com a regra no próximo governo. “A questão é central: garantir a sustentabilidade econômica do SUS.”
Temporão aponta outro aspecto: recolocar a saúde no centro da agenda política e recuperar a credibilidade do ministério.
O posto sempre foi cobiçado nos governos. Não é à toa. Ele é um dos maiores orçamentos da Esplanada – R$ 131,2 bilhões em 2018. Além disso, tem grande capilaridade no País.
Os reflexos disso ficam claros quando se analisa a rotatividade no posto. Em três anos, quatro ministros ficaram à frente da pasta. Na equipe do atual ministro – Gilberto Occhi –, só um secretário é médico: o secretário executivo, Adeilson Cavalcante. “Há grande desconfiança”, diz Temporão.
Isso e a falta de continuidade das políticas trazem o baixo impacto de algumas ações. Como exemplo, Temporão cita a redução da cobertura vacinal. “Não há apelo para que a população se mobilize.”
A área sofre com as mudanças nas regras para ajuste de gastos federais, que provocaram uma perda para a Saúde de R$ 6,8 bi em três anos, de acordo com cálculos da Associação Brasileira de Economia da Saúde (ABrES) obtidos pelo Estado.
Eles comparam os valores estabelecidos pela regra do período entre 2016 e 2018 com o que seria aplicado, caso a regra anterior estivesse em vigor.
“A queda é significativa”, diz o presidente da entidade, Carlos Ocké. Para se ter ideia, a quantia é o triplo do repassado pelo Ministério da Saúde em 2017 às ações de vigilância em saúde. “Para além das dificuldades atuais, o congelamento da aplicação mínima em saúde pelo governo federal trará prejuízos para o acesso da população aos serviços do SUS”, avalia Fabíola.
O impacto da regra de teto de gastos se soma a uma tendência histórica da redução da participação de verbas federais para o financiamento da Saúde.
Quando o SUS foi criado, em 1988, a União era responsável por 72% dos gastos públicos na área. Essa participação é hoje de 43%. A diferença foi assumida por Estados e municípios (25,8%).
Élida Graziane Pinto, procuradora de Contas do Ministério Público de Contas de São Paulo, classifica a mudança como erro. “Neste período, a União expandiu a capacidade arrecadatória, que hoje é de 60%. Caberia a ela verter mais recursos no SUS, porque é quem mais arrecada”, afirma.
“Será menos dinheiro para atender mais gente”, resume o presidente do Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, Leonardo Vilela. E aumento da demanda não deve ser efêmero. “Muitas das pessoas que saíram dos planos não querem ou não terão condições de voltar.” O dinheiro curto pode afetar ainda a capacidade de resposta, num momento em que a população envelhece, a pressão pela incorporação de novas tecnologias aumenta e que capacidade de planejamento se esgota.
“O aumento de custos é natural. Antes, quando alguém aparecia com dor de cabeça, o médico prescrevia analgésico. Hoje é encaminhado à tomografia. Muito câncer é curável. Mas tratá-los custa”, diz o professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Pelotas, Cesar Victora.
Média global de gastos
Vilela tem avaliação parecida. Ele lembra que, em 1997, a média global dos gastos em Saúde era de 8% do PIB mundial. Em 2017, alcançava 9,9%. “Os serviços em saúde são caros e crescentes em todo mundo.”
Por isso, Vilela classificou a nova regra de teto de gastos como “esdrúxula”. “Ela engessa os gastos, não leva em conta o crescimento populacional.”
A Emenda Constitucional 95 congela os recursos em termos reais a partir deste ano. O piso para o setor é calculado com base nos 15% da Receita Corrente Líquida de 2017, corrigido pelo IPCA. A regra vale até 2036.
Segundo Vilela, se a regra estivesse em vigor em 2003, o orçamento em Saúde em 2017 seria de R$ 50 bilhões. “Bem menos do que os R$ 120 bilhões que foram desembolsados.”
Quando a proposta ainda estava em discussão, um estudo feito pela especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Instituto de Pesquisas Aplicadas (Ipea), Fabíola Sulpino Vieira, já indicava que o setor perderia recursos se fosse comparado com a regra anterior e num cenário com crescimento do PIB. Quanto o maior o crescimento, maior seria a perda.
Por isso, o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, integrante da Academia Nacional Medicina, considera essencial acabar com a regra no próximo governo. “A questão é central: garantir a sustentabilidade econômica do SUS.”
Temporão aponta outro aspecto: recolocar a saúde no centro da agenda política e recuperar a credibilidade do ministério.
O posto sempre foi cobiçado nos governos. Não é à toa. Ele é um dos maiores orçamentos da Esplanada – R$ 131,2 bilhões em 2018. Além disso, tem grande capilaridade no País.
Os reflexos disso ficam claros quando se analisa a rotatividade no posto. Em três anos, quatro ministros ficaram à frente da pasta. Na equipe do atual ministro – Gilberto Occhi –, só um secretário é médico: o secretário executivo, Adeilson Cavalcante. “Há grande desconfiança”, diz Temporão.
Isso e a falta de continuidade das políticas trazem o baixo impacto de algumas ações. Como exemplo, Temporão cita a redução da cobertura vacinal. “Não há apelo para que a população se mobilize.”
A área sofre com as mudanças nas regras para ajuste de gastos federais, que provocaram uma perda para a Saúde de R$ 6,8 bi em três anos, de acordo com cálculos da Associação Brasileira de Economia da Saúde (ABrES) obtidos pelo Estado.
Eles comparam os valores estabelecidos pela regra do período entre 2016 e 2018 com o que seria aplicado, caso a regra anterior estivesse em vigor.
“A queda é significativa”, diz o presidente da entidade, Carlos Ocké. Para se ter ideia, a quantia é o triplo do repassado pelo Ministério da Saúde em 2017 às ações de vigilância em saúde. “Para além das dificuldades atuais, o congelamento da aplicação mínima em saúde pelo governo federal trará prejuízos para o acesso da população aos serviços do SUS”, avalia Fabíola.
O impacto da regra de teto de gastos se soma a uma tendência histórica da redução da participação de verbas federais para o financiamento da Saúde.
Quando o SUS foi criado, em 1988, a União era responsável por 72% dos gastos públicos na área. Essa participação é hoje de 43%. A diferença foi assumida por Estados e municípios (25,8%).
Élida Graziane Pinto, procuradora de Contas do Ministério Público de Contas de São Paulo, classifica a mudança como erro. “Neste período, a União expandiu a capacidade arrecadatória, que hoje é de 60%. Caberia a ela verter mais recursos no SUS, porque é quem mais arrecada”, afirma.
Fonte: Anahp
Obrigado por comentar!
Erro!