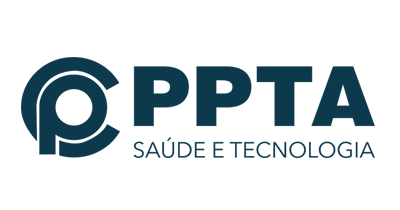Saúde na encruzilhada
16/03/2018
Cada vez que tem um problema de saúde, a babá Dalva Lúcia da Silva, de 54 anos, tem vontade de chorar. Não de dor, mas por ter certeza de que a doença irá acompanhá-la por anos a fio. É uma constatação que veio da prática. Há cerca de quatro anos ela começou a perceber caroços grandes nas mamas. Sem médico no posto de saúde perto de sua casa, fez consultas e exames particulares, que não foram aceitos no sistema público. Como as dores e o incômodo não sumiam, insistiu com a assistente social, até ser encaminhada ao Hospital Pérola Byington, em São Paulo.
Depois de mais mamografias, teve alta, com diagnóstico de assimetria focal. Sem um laudo que a encaminhasse para a resolução do problema, gastou ainda com um plano de saúde barato. Com pouquíssima alternativa de médicos e sem autorização para exames, desistiu de pagá-lo depois de seis meses. Foi ainda a uma clínica popular, mas o preço de mais exames foi impeditivo para que prosseguisse a investigação. Ela continua doente.
É, infelizmente, uma história comum. Tanto que saúde aparece como a principal preocupação dos brasileiros, em todas as pesquisas sobre insatisfação da população, há muitos anos. A exceção foi em 2015, quando o Datafolha constatou que a corrupção, no auge da Operação Lava-Jato, havia ultrapassado o tema. Porém, na pesquisa mais recente, realizada em outubro, a saúde voltou a ser novamente o motivo que mais tira o sono das pessoas.
Um pesadelo longe de terminar, dizem os especialistas. Entre os motivos estão restrições orçamentárias, falta de prioridade política, grandes e pequenos problemas de gestão, questões legais e de agências reguladoras. Com um agravante: nas próximas eleições, as discussões sobre saúde deverão continuar pífias. A desilusão deve-se ao fato de essa ter sido a regra em pleitos recentes. Propostas eleitoreiras que rendem votos, mas consideradas erradas do ponto de vista do planejamento, foram a tônica dos discursos, diz a maior parte dos especialistas. Para piorar, a sete meses das eleições, não há sequer candidaturas sólidas, quanto mais propostas profundas ligadas à saúde sendo discutidas.
Consultores, médicos, gestores e acadêmicos enxergam agora, porém, um ponto de inflexão. Além da tendência de piora do sistema público, a saúde privada tem se tornado ainda mais cara e escassa. Com isso, os donos de carteirinhas de planos de saúde, parte de uma elite formadora de opinião e que se via pouco atingida pelas mazelas do Sistema Único de Saúde, o SUS, tende a perceber com mais clareza a ineficiência no uso tanto de recursos públicos quanto privados. "As pessoas pagam o sistema de saúde mais de uma vez, de diversas formas", diz Mário Scheffer, professor de Políticas de Saúde da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP). "O que talvez seja novidade é que há hoje um descontentamento generalizado do ponto de vista de satisfação da população com saúde, inclusive com os planos privados."
Isso porque os contratantes dos planos - em sua maior parte empresas - constataram que a espiral crescente de reajustes tem tornado seus gastos quase tão grandes ou até maiores que os das folhas de pagamento, como revelou recentemente o Valor. As pessoas físicas, por sua vez, só conseguem entrar no sistema privado via categoria profissional. Sem alternativa de planos individuais, os trabalhadores atingidos por cortes, como os da recente crise, são obrigados a apelar ao sistema público - o que torna seus serviços ainda mais disputados e carentes.
"O pai de todos os problemas na saúde é a falta de dinheiro", diz Scheffer. "Já era uma situação crônica e conhecida, mas o teto do orçamento e a incapacidade de Estados e municípios ampliarem seus investimentos na área criarão um cenário crítico em 2018." Segundo ele, mesmo com o fato de terem sido antecipados 15% da receita corrente líquida da União para a saúde, já neste ano o sistema "entrará em colapso", com a diminuição na capacidade de atendimento e de leitos. "Não há melhoria de gestão que resolva um problema tão profundo", diz.
O valor gasto pelo país com saúde, porém, não é pequeno. Apesar de o desembolso público com o setor chegar a pouco mais de 3,9% do PIB, quando somam-se nessa conta os gastos privados, o financiamento sobe para 9%. O percentual é idêntico ao da Itália e do Reino Unido e pouco abaixo do gasto pela Alemanha e França, de 11% e 12%, respectivamente. Com um PIB menor, é claro.
"Os recursos estão insuficientes em qualquer país porque o mundo enfrenta os mesmos problemas estruturais", diz Paulo Chapchap, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês. "Prolongamos a expectativa de vida e, com isso, acrescentamos uma série de doenças que antes não existiam e hoje precisam ser tratadas." Ele também fala das epidemias de obesidade, violência, acidentes de trânsito e outras com tendência de crescimento, além dos gastos maiores por conta da tecnologia. "Cabe à sociedade decidir onde colocar seus recursos com maturidade", afirma.
Como parte desse cenário de escassez de verbas, a participação da União no caixa da saúde vem caindo progressivamente. Até pouco mais de dez anos atrás, era de 50% do total investido. Em 2016, ele ficou em 43%, dos R$ 246 bilhões do financiamento público da saúde. Os Estados, com suas situações fiscais complicadas, praticamente mantiveram sua participação nessa conta, em 26% do total. Já os municípios, braço operacional que lida diretamente com a população, sofreram a maior pressão. A participação das cidades foi de 31%, em 2016. São Paulo, por exemplo, gasta 22,7% do seu caixa com saúde, sendo que o mínimo determinado constitucionalmente é de 15%.
Curto e remendado, o cobertor brasileiro da saúde tem furos extras. "Falta uma política de Estado sobre as prioridades da saúde", diz Ligia Bahia, professora da UFRJ. Para ela e outros especialistas, não estão sendo dadas respostas aos problemas de saúde dos brasileiros, que têm péssimos indicadores e tendência de piora por conta do perfil demográfico e epidemiológico. "Os candidatos precisam se mobilizar para discutir um sistema de saúde que não fale só sobre assistência médica, mas que dê respostas e se aproxime dos motivos de adoecimento e morte dos brasileiros", diz Scheffer.
Além de discutir qual saúde se quer, é preciso também saber qual é a prioridade dada ao tema pelo Estado, dizem eles. "Ninguém coloca na Fazenda um ministro que não seja altamente qualificado para o cargo ou que não entenda profundamente de economia", diz Ligia. "Usar a saúde, dona do segundo maior orçamento da União, como moeda de troca política é muito grave."
O ministro Ricardo Barros foi indicado pelo PP, partido do qual é vice-presidente, para o cargo. Engenheiro civil de formação, ele foi cinco vezes deputado federal pelo Paraná, prefeito de Maringá, candidato ao Senado e relator do Orçamento em 2016. Sairá no fim de março para candidatar-se novamente a uma cadeira na Câmara. Seus secretários, que o auxiliariam nas decisões técnicas, chegaram aos cargos pelo mesmo caminho. "Meus secretários são pessoas indicadas também, mas [são] da área, e eu mesmo não me considero fora do ramo", diz Barros. "Sou da área de gestão pública: não estou fazendo medicina no Ministério da Saúde, estou fazendo gestão no Ministério da Saúde."
Segundo Barros, a escolha de seu nome pelo presidente Michel Temer foi uma aposta nos gestores com experiência política. "Administrar o poder público é totalmente diferente da iniciativa privada porque não se aplicam os mesmos métodos de eficiência", afirma. "O servidor público tem isonomia, estabilidade de emprego e irredutibilidade do salário e, portanto, não é possível implementar a meritocracia. No poder público não se faz o que quer: faz-se o que é possível fazer."
Ele cita, como exemplo da efetividade de sua gestão, o fato de que todas decisões implantadas pelo ministério tenham sido feitas de maneira tripartite. "Não foram portarias do ministro porque me dediquei a convencer Estados e municípios das teses que levantamos", diz. "Só determinar portarias não cola porque todos têm autonomia para cumpri-las ou não. Tudo o que fizemos foi pactuado, convencionado e será implantado na ponta porque tem apoio." Algumas delas, porém, geraram muita polêmica no setor, como a nova política de saúde mental.
Apesar de experiente, vez por outra o ministro deixou o governo em saia justa, como quando disse que a maioria dos pacientes procura o SUS com efeitos psicossomáticos. Ou na afirmação de que os homens vão menos a postos de saúde porque trabalham mais que as mulheres. Ou ainda quando declarou que quanto mais pessoas tiverem planos de saúde, melhor. Sua proximidade com o setor privado, inclusive, é bastante criticada. Um dos financiadores de sua campanha em 2014 era dono do plano Aliança. "Isso é uma bobagem porque quando eu era candidato, ninguém imaginava que eu ia ser ministro da Saúde", diz Barros. "Sou, sim, um pragmático: todo financiamento a mais que pudermos ter na saúde, devemos ter. Ficar num plano, mesmo que só até determinado nível, e depois ir para o SUS não é ruim. É bom porque desafoga o sistema."
Para os especialistas, a falta de prioridade com a saúde não é exclusividade deste mandato, nem dos imediatamente anteriores. Apesar de dizer que o orçamento da saúde tem um bom tamanho, o próprio Barros reconhece que o Estado administra uma situação que herdou, construída ao longo dos 30 anos desde que a Constituição foi promulgada. "Desde o início, o SUS deveria receber 30% da arrecadação da Seguridade Social, e o presidente Itamar Franco [1930- 2011] tirou 10% para o financiamento das aposentadorias rurais", afirma. "Desde sempre o SUS é subfinanciado."
A história não é exatamente a contada por Barros. Segundo a professora Ligia Bahia, toda a contribuição da Previdência Social foi retirada da saúde pelo então ministro Antonio Britto. Foi o que levou, depois, o ministro Adib Jatene a pedir recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) para a área e inventar a CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira). "Na verdade, o resumo é o mesmo: por decisão política, sempre foram retirados recursos da saúde, seja no governo Sarney, Itamar, Collor, FHC, Lula e Dilma", diz Ligia.
O problema é tão constante que evoca soluções tributárias de tempos em tempos. Nenhum especialista defende a volta da CPMF, o imposto do cheque, que vigorou entre 1997 e 2007, para resolver a falta de recursos. Há agora, porém, conversas que envolvem revisões graduais no gigantesco emaranhado de benefícios tributários do setor privado e nas alíquotas da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) e do Cofins.
Ainda ligada aos números, outra distorção está no fato de que, apesar de receber a maior parte do financiamento, o sistema privado atende a menos de 25% da população. O que poderia refletir apenas privilégio, revela também uma enorme ineficiência. "Estima-se que o desperdício de recursos em todo o sistema varie entre 15% a 30%", diz Enrico de Vettori, sócio da consultoria Deloitte, especializado na área.
As razões são variadas e, segundo os especialistas, indicam que o setor público não é o único a precisar investir em gestão. "Há uma tendência de os associados procurarem pronto atendimentos em qualquer situação, seja ou não uma emergência, por facilidade sobretudo de horário", diz Vettori. "Só que a quantidade de médicos jovens e mal preparados nesses plantões é enorme. Inseguros, eles promovem a indústria de solicitação de exames, às vezes como complemento de renda, já que em alguns casos há comissionamento."
Reinaldo Scheibe, presidente da Associação Brasileira dos Planos de Saúde (Abramge), diz que o Brasil é o campeão mundial em número de ressonâncias magnéticas.
"Laboratórios, fornecedores de equipamentos, tecnologias e novos produtos têm lucros excepcionais no Brasil", afirma. "Cada vez que se aumenta o rol de procedimentos, eles batem palmas, mas usuários e planos ficam reféns de algo que se torna obrigatório, mas cuja efetividade é zero."
Nem sempre. Mas, para ele, o país tem equipamentos demais porque faltam definições precisas sobre quais são as obrigações e os limites do sistema de saúde. "Se são colocados dois equipamentos numa cidade, eles têm de rodar o tempo todo, como um avião numa companhia aérea, para ter resultado financeiro", afirma. "Os fabricantes de equipamentos não vendem no Canadá, por exemplo, o mesmo tanto que no Brasil porque há uma política de governo que conhece e controla a necessidade da população por esse tipo de tecnologia."
Surge dessa falta de controle público outra reclamação conhecida do setor: a judicialização do sistema de saúde, que cria incertezas e custos maiores. "O país do próximo presidente precisa sentar com legisladores e o Judiciário para dizer qual cobertura médica será dada à população", diz Scheibe. "Numa coletividade, em que um paga pelo outro, é preciso prever quanto, com quem e onde será colocado o dinheiro, para que não se gaste muito com poucos e pouco com muitos."
Uma pesquisa feita por Scheffer mostrou que, apenas no Estado de São Paulo, foram julgadas mais de 30 mil ações contra planos de saúde no ano passado. Em 2011, foram decididas 7 mil ações, com aumento de 329% no período. Isso num cenário de encolhimento do número de associados aos planos. A cada dia útil do ano passado, a Justiça concedeu 120 decisões, a maioria envolvendo negativas de cobertura, reajuste de mensalidade e reclamações de idosos. Num estudo anterior, com 4 mil decisões, em 92,4% dos casos foi dada razão integral ou parcial ao usuário.
"Um juiz que determina a uma operadora pequena, que tem caixa e obrigação de atender 20 mil ou 40 mil vidas, pagar um transplante de R$ 1 milhão para um único paciente vai quebrar a empresa e prejudicar outras 40 mil vidas", afirma Scheibe.
Para Scheffer, porém, a judicialização é um "bode na sala". "Não é um problema do tamanho que falam, mas é um evento sentinela que demonstra distorções e problemas", diz. "Se for feita uma análise histórica, a judicialização é uma efetivação de direitos à saúde."
Essa conclusão vale sobretudo para medicamentos: depois de movimentos parecidos na Justiça, foram incorporados ao sistema remédios que deram suporte a políticas públicas, como HIV/aids, hepatite e diabetes.
Como na saúde nada é simples, essa realidade cria outras distorções. Especialista em economia da saúde, a pesquisadora do Ipea Fabiola Sulpino Vieira acaba de concluir um estudo sobre os gastos com medicamentos do SUS entre 2010 e 2016. O crescimento real dos dispêndios com ações judiciais de medicamentos foi de 547%, entre 2010 e 2016, chegando a R$ 1,3 bilhão no último ano do levantamento.
Em 2015, metade das 20 tecnologias mais caras demandadas por meio do Judiciário não tinha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eram sobretudo medicamentos biológicos. "Muitos eram remédios experimentais, sequer registrados nas agências reguladoras de outros países", diz Fabiola. "Os juízes interpretam a integralidade no acesso à saúde determinada na Constituição como dar acesso a tudo o que existe no mercado", afirma Fabiola. "Só que essa integralidade significa garantir medicamentos na atenção básica, média e de alta complexidade, de acordo com a racionalidade da compra dos itens, da orientação dos prescritores, dos critérios econômicos e da racionalidade terapêutica."
Para ficar apenas num caso, um tratamento de câncer de alta complexidade é remunerado pelo SUS num pacote. Quando há demanda por um medicamento específico de fora desse sistema, quebra-se o planejamento, na hipótese de medicamento experimental, sem garantia de efetividade no tratamento. Outra distorção é que, como o acesso ao Judiciário também é desigual, as pessoas com mais recursos são sempre mais beneficiadas. "O gasto com medicamentos poderá comprometer parcelas mais significativas da receita do Ministério da Saúde, o que possivelmente reduzirá os recursos para outros bens e serviços à população, por conta do teto de gastos no governo federal", diz Fabiola.
Na judicialização, há alguns detalhes a serem destacados. Já foram feitas leis e campanhas públicas junto ao Judiciário de alerta sobre o problema. Apesar de o resultado inicial ter favorecido a visão do sistema público de saúde, depois de algum tempo as decisões retornaram a patamares anteriores. Tenta-se agora criar comissões, como existem em outros países, que embasem as decisões da Justiça.
Com uma visão mais clara sobre o sistema público, em países como o Reino Unido, por exemplo, não são autorizados tratamentos fora das regras, como ocorreu no ano passado com o menino Charlie Gard. Mesmo com a comoção das redes sociais, de pedidos do papa Francisco e do presidente Donald Trump e de crowdfunding para o tratamento da cardiopatia grave nos EUA, a Justiça britânica não autorizou sua transferência, já que ele não seria curado. Em outro país citado sempre como exemplo, o Canadá, o gasto com medicamentos usados em casos de doenças raras, graves ou de baixa prevalência que carecem de tratamentos ou de opções melhores comparadas às existentes, representou 3,3% a 5,6% do gasto total com medicamentos no período de 2007 a 2013. No Brasil, essas categorias superaram os 20%. "É preciso refletir a quem serve o Estado: a população inteira ou a pequenos grupos?", diz Fabiola.
A judicialização dos medicamentos, evidentemente, é apenas um dos muitos problemas do sistema público. Um dos mais básicos, por exemplo, é definir a porta de entrada. "O SUS é muito heterogêneo e tem vários formatos, com algumas experiências boas inclusive", afirma Scheffer. "Tem exemplos num mesmo município, como na zona leste de São Paulo, em que, mesmo com todos os defeitos, funciona bem em sua microrregulação."
As dificuldades com gestão são tão amplas que não há, no Ministério da Saúde, um estudo sobre os principais entraves do setor e as medidas a serem adotadas para resolvê-los. "Há uma mudança filosófica a ser feita que requer conhecer o que acontece no sistema", diz Barros. "Por isso a informatização é a prioridade que, após concluída, permitirá o melhor planejamento."
A prioridade da pasta colocou o prontuário eletrônico em 17 mil unidades básicas de saúde no ano passado. A expectativa é de que todas as 41 mil recebam sistema, treinamento e equipamento até o fim do ano. A mesma perspectiva, porém, foi adiada anteriormente. "Tivemos uma série de percalços porque o lobby contra a informatização da saúde é muito forte", diz Barros. "Hoje, os fornecedores faturam no descontrole e há uma resistência corporativista muito grande."
Segundo ele, a economia potencial com o sistema, no qual está sendo investido inicialmente R$ 1,5 bilhão, será de R$ 22 bilhões anuais. "As coisas têm de ser organizadas, ordenadas, e infelizmente não temos essa tradição do serviço público brasileiro, especialmente na área da saúde", diz Barros. "Os 68 mil médicos que fazem assistência básica, por exemplo, realizam 43% das consultas que poderiam fazer, se cada uma delas durasse 15 minutos por paciente", afirma o ministro. "É um descontrole total que precisa ser revisto, e por isso a biometria é uma exigência." Barros afirma que o sistema não apenas exige o registro de presença, mas obriga o detalhamento dos serviços prestados. "Temos os mesmos profissionais de saúde trabalhando no sistema público e no privado", diz. "Muitos preferem não fazer um atendimento resolutivo no público, para receber o cidadão no privado."
Classificada pelo ministro como a mais importante a ser continuada pelo novo governo, a iniciativa é vista pela maior parte dos especialistas como interessante e com grande potencial de avanço. "O uso de informações permitirá, por exemplo, a adoção de 'big data' para gerenciar compras ou as principais demandas e necessidades da população em relação à saúde", diz Leonardo Giusti, sócio da KPMG para a área.
Nem mesmo a pulverização de sistemas e modelos de gestão públicos são vistos como empecilhos para a informatização. Só na cidade de São Paulo há 11 organizações sociais de saúde que prestam serviços à prefeitura, cada uma com sua ferramenta tecnológica. "Existem soluções de barramento [mecanismo de comunicação gerenciada] que permitem puxar informações para o prontuário eletrônico único", afirma Eliane Kihara, sócia da PwC Brasil também da área. "O mesmo foi feito em Nova York, onde se conectou todo o sistema, de atendimento primário a hospitais, passando por casas de repouso, fisioterapeutas e médicos." A privacidade dos usuários, um tema bastante polêmico no exterior, ainda não ganhou repercussão no Brasil.
Se a informatização resolverá alguns problemas, outros precisarão de vontade política ainda maior. Há hoje no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, quase 1,2 mil UBS e UPAs, as unidades básica de saúde e de pronto atendimento, prontas, mas sem funcionar. Motivo: o custo anual de se manter uma estrutura de saúde é equivalente ao preço de construí-la e equipá-la. Na época de crescimento da economia, prefeitos e governadores construíram as unidades, sem se preocupar com os recursos que os manteriam, dizem os especialistas.
Apesar de renderem votos e algum auxílio à população, a maior parte dos hospitais espalhados por pequenas cidades do país também são insustentáveis. "Com menos de 70 leitos, os hospitais ficam inviáveis do ponto de vista econômico", diz Giusti. "Um grande desafio é redimensionar essa malha ineficiente porque ter acesso a um posto de saúde não quer dizer ter acesso à saúde."
Para Daniel Greca, sócio da KPMG, a solução é trabalhar em "clusters", com a atenção básica fortalecida nas microrregiões. Conforme a necessidade do tratamento aumentar, a pessoa busca os centros nos quais há mais especialistas e tratamentos. "Quando se dá atenção aos problemas primários evitam-se complicações mais caras", diz Greca. "Mas, se um tratamento maior for inevitável, cria-se aí uma rede de atendimento regional forte, bem equipada e sustentável financeiramente."
Essa, inclusive, é a maior aposta de solução de especialistas: investir e aprimorar a atenção local a saúde das famílias, com agentes comunitários, assistentes sociais, clínicas de bairro e médicos de família. "A atenção primária e o médico de família evitam episódios mais graves e a repetição de exames", diz Bernardo Sebastião, sócio da Bain & Company. É a medicina praticada no Reino Unido e no Canadá, dono de um sistema parecido com o brasileiro até algum tempo atrás. Quando foram montados os "clusters" de saúde, houve grande resistência da população. Eles, com o tempo, mostraram sua eficiência.
"Já tivemos um início desse modelo no Brasil que foi muito bem planejado", afirma Vettori, da Deloitte. "Na última década, ele foi desestruturado e apequenado, sofreu com restrições orçamentárias, mas é ali que se deveria dobrar a aposta." Segundo ele, quando o médico de família de fato chega à população resolve-se, inclusive, o problema da porta de entrada no sistema. "Inverte-se o fluxo de pacientes que deixam de procurar emergências desnecessariamente ou ficam pulando de especialista em especialista, gerando um enorme desperdício", diz.
É uma saída tão interessante que alguns planos de saúde têm tentado adotar um sistema parecido com seus próprios associados para reduzir custos. Outra iniciativa da medicina privada para melhorar seu desempenho é a adoção do pagamento por performance. Hoje, a maioria dos planos paga por atendimentos: cada consulta, raio-X, soro, esparadrapo etc. é cobrado isoladamente. "No pagamento por performance, paga-se por um pacote de serviços, com parâmetros de sucesso muito bem definidos", diz Giusti, da KPMG. "É preciso haver compartilhamento de informações entre prestadores de serviço e contratantes e os ganhos são divididos."
Há controles da qualidade do serviço prestado, evidentemente. Caso o paciente retorne por alguma complicação, por conta de um atendimento inadequado, o prestador de serviço não recebe o valor pactuado integralmente. No Estado de Nova York, onde o sistema foi implantado em 2014, os resultados foram tão surpreendentes que 80% dos serviços deverão ser orientados por esse modelo até 2019. "Há uma grande jornada a ser percorrida porque é preciso estabelecer métricas claras e transparência para ser um jogo de ganha-ganha", diz Eliane, da PWC.
No meio de tanto a ser feito, há ainda discussões profundas ocorrendo sobre o novo modelo de repasse de recursos do SUS, os índices de inflação dos planos de saúde, o excesso ou a retirada de regras do sistema privado e seu novo marco regulatório, a precarização e a efetividade das agências reguladoras, numa lista que parece interminável, cheias de prós e contras. "Do ponto de vista de gestão de população, o setor público tem a faca e o queijo na mão", afirma Eliane. "Há muitos incentivos para que ela melhore." Num copo muito vazio, qualquer gota é válida.
Depois de mais mamografias, teve alta, com diagnóstico de assimetria focal. Sem um laudo que a encaminhasse para a resolução do problema, gastou ainda com um plano de saúde barato. Com pouquíssima alternativa de médicos e sem autorização para exames, desistiu de pagá-lo depois de seis meses. Foi ainda a uma clínica popular, mas o preço de mais exames foi impeditivo para que prosseguisse a investigação. Ela continua doente.
É, infelizmente, uma história comum. Tanto que saúde aparece como a principal preocupação dos brasileiros, em todas as pesquisas sobre insatisfação da população, há muitos anos. A exceção foi em 2015, quando o Datafolha constatou que a corrupção, no auge da Operação Lava-Jato, havia ultrapassado o tema. Porém, na pesquisa mais recente, realizada em outubro, a saúde voltou a ser novamente o motivo que mais tira o sono das pessoas.
Um pesadelo longe de terminar, dizem os especialistas. Entre os motivos estão restrições orçamentárias, falta de prioridade política, grandes e pequenos problemas de gestão, questões legais e de agências reguladoras. Com um agravante: nas próximas eleições, as discussões sobre saúde deverão continuar pífias. A desilusão deve-se ao fato de essa ter sido a regra em pleitos recentes. Propostas eleitoreiras que rendem votos, mas consideradas erradas do ponto de vista do planejamento, foram a tônica dos discursos, diz a maior parte dos especialistas. Para piorar, a sete meses das eleições, não há sequer candidaturas sólidas, quanto mais propostas profundas ligadas à saúde sendo discutidas.
Consultores, médicos, gestores e acadêmicos enxergam agora, porém, um ponto de inflexão. Além da tendência de piora do sistema público, a saúde privada tem se tornado ainda mais cara e escassa. Com isso, os donos de carteirinhas de planos de saúde, parte de uma elite formadora de opinião e que se via pouco atingida pelas mazelas do Sistema Único de Saúde, o SUS, tende a perceber com mais clareza a ineficiência no uso tanto de recursos públicos quanto privados. "As pessoas pagam o sistema de saúde mais de uma vez, de diversas formas", diz Mário Scheffer, professor de Políticas de Saúde da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP). "O que talvez seja novidade é que há hoje um descontentamento generalizado do ponto de vista de satisfação da população com saúde, inclusive com os planos privados."
Isso porque os contratantes dos planos - em sua maior parte empresas - constataram que a espiral crescente de reajustes tem tornado seus gastos quase tão grandes ou até maiores que os das folhas de pagamento, como revelou recentemente o Valor. As pessoas físicas, por sua vez, só conseguem entrar no sistema privado via categoria profissional. Sem alternativa de planos individuais, os trabalhadores atingidos por cortes, como os da recente crise, são obrigados a apelar ao sistema público - o que torna seus serviços ainda mais disputados e carentes.
"O pai de todos os problemas na saúde é a falta de dinheiro", diz Scheffer. "Já era uma situação crônica e conhecida, mas o teto do orçamento e a incapacidade de Estados e municípios ampliarem seus investimentos na área criarão um cenário crítico em 2018." Segundo ele, mesmo com o fato de terem sido antecipados 15% da receita corrente líquida da União para a saúde, já neste ano o sistema "entrará em colapso", com a diminuição na capacidade de atendimento e de leitos. "Não há melhoria de gestão que resolva um problema tão profundo", diz.
O valor gasto pelo país com saúde, porém, não é pequeno. Apesar de o desembolso público com o setor chegar a pouco mais de 3,9% do PIB, quando somam-se nessa conta os gastos privados, o financiamento sobe para 9%. O percentual é idêntico ao da Itália e do Reino Unido e pouco abaixo do gasto pela Alemanha e França, de 11% e 12%, respectivamente. Com um PIB menor, é claro.
"Os recursos estão insuficientes em qualquer país porque o mundo enfrenta os mesmos problemas estruturais", diz Paulo Chapchap, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês. "Prolongamos a expectativa de vida e, com isso, acrescentamos uma série de doenças que antes não existiam e hoje precisam ser tratadas." Ele também fala das epidemias de obesidade, violência, acidentes de trânsito e outras com tendência de crescimento, além dos gastos maiores por conta da tecnologia. "Cabe à sociedade decidir onde colocar seus recursos com maturidade", afirma.
Como parte desse cenário de escassez de verbas, a participação da União no caixa da saúde vem caindo progressivamente. Até pouco mais de dez anos atrás, era de 50% do total investido. Em 2016, ele ficou em 43%, dos R$ 246 bilhões do financiamento público da saúde. Os Estados, com suas situações fiscais complicadas, praticamente mantiveram sua participação nessa conta, em 26% do total. Já os municípios, braço operacional que lida diretamente com a população, sofreram a maior pressão. A participação das cidades foi de 31%, em 2016. São Paulo, por exemplo, gasta 22,7% do seu caixa com saúde, sendo que o mínimo determinado constitucionalmente é de 15%.
Curto e remendado, o cobertor brasileiro da saúde tem furos extras. "Falta uma política de Estado sobre as prioridades da saúde", diz Ligia Bahia, professora da UFRJ. Para ela e outros especialistas, não estão sendo dadas respostas aos problemas de saúde dos brasileiros, que têm péssimos indicadores e tendência de piora por conta do perfil demográfico e epidemiológico. "Os candidatos precisam se mobilizar para discutir um sistema de saúde que não fale só sobre assistência médica, mas que dê respostas e se aproxime dos motivos de adoecimento e morte dos brasileiros", diz Scheffer.
Além de discutir qual saúde se quer, é preciso também saber qual é a prioridade dada ao tema pelo Estado, dizem eles. "Ninguém coloca na Fazenda um ministro que não seja altamente qualificado para o cargo ou que não entenda profundamente de economia", diz Ligia. "Usar a saúde, dona do segundo maior orçamento da União, como moeda de troca política é muito grave."
O ministro Ricardo Barros foi indicado pelo PP, partido do qual é vice-presidente, para o cargo. Engenheiro civil de formação, ele foi cinco vezes deputado federal pelo Paraná, prefeito de Maringá, candidato ao Senado e relator do Orçamento em 2016. Sairá no fim de março para candidatar-se novamente a uma cadeira na Câmara. Seus secretários, que o auxiliariam nas decisões técnicas, chegaram aos cargos pelo mesmo caminho. "Meus secretários são pessoas indicadas também, mas [são] da área, e eu mesmo não me considero fora do ramo", diz Barros. "Sou da área de gestão pública: não estou fazendo medicina no Ministério da Saúde, estou fazendo gestão no Ministério da Saúde."
Segundo Barros, a escolha de seu nome pelo presidente Michel Temer foi uma aposta nos gestores com experiência política. "Administrar o poder público é totalmente diferente da iniciativa privada porque não se aplicam os mesmos métodos de eficiência", afirma. "O servidor público tem isonomia, estabilidade de emprego e irredutibilidade do salário e, portanto, não é possível implementar a meritocracia. No poder público não se faz o que quer: faz-se o que é possível fazer."
Ele cita, como exemplo da efetividade de sua gestão, o fato de que todas decisões implantadas pelo ministério tenham sido feitas de maneira tripartite. "Não foram portarias do ministro porque me dediquei a convencer Estados e municípios das teses que levantamos", diz. "Só determinar portarias não cola porque todos têm autonomia para cumpri-las ou não. Tudo o que fizemos foi pactuado, convencionado e será implantado na ponta porque tem apoio." Algumas delas, porém, geraram muita polêmica no setor, como a nova política de saúde mental.
Apesar de experiente, vez por outra o ministro deixou o governo em saia justa, como quando disse que a maioria dos pacientes procura o SUS com efeitos psicossomáticos. Ou na afirmação de que os homens vão menos a postos de saúde porque trabalham mais que as mulheres. Ou ainda quando declarou que quanto mais pessoas tiverem planos de saúde, melhor. Sua proximidade com o setor privado, inclusive, é bastante criticada. Um dos financiadores de sua campanha em 2014 era dono do plano Aliança. "Isso é uma bobagem porque quando eu era candidato, ninguém imaginava que eu ia ser ministro da Saúde", diz Barros. "Sou, sim, um pragmático: todo financiamento a mais que pudermos ter na saúde, devemos ter. Ficar num plano, mesmo que só até determinado nível, e depois ir para o SUS não é ruim. É bom porque desafoga o sistema."
Para os especialistas, a falta de prioridade com a saúde não é exclusividade deste mandato, nem dos imediatamente anteriores. Apesar de dizer que o orçamento da saúde tem um bom tamanho, o próprio Barros reconhece que o Estado administra uma situação que herdou, construída ao longo dos 30 anos desde que a Constituição foi promulgada. "Desde o início, o SUS deveria receber 30% da arrecadação da Seguridade Social, e o presidente Itamar Franco [1930- 2011] tirou 10% para o financiamento das aposentadorias rurais", afirma. "Desde sempre o SUS é subfinanciado."
A história não é exatamente a contada por Barros. Segundo a professora Ligia Bahia, toda a contribuição da Previdência Social foi retirada da saúde pelo então ministro Antonio Britto. Foi o que levou, depois, o ministro Adib Jatene a pedir recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) para a área e inventar a CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira). "Na verdade, o resumo é o mesmo: por decisão política, sempre foram retirados recursos da saúde, seja no governo Sarney, Itamar, Collor, FHC, Lula e Dilma", diz Ligia.
O problema é tão constante que evoca soluções tributárias de tempos em tempos. Nenhum especialista defende a volta da CPMF, o imposto do cheque, que vigorou entre 1997 e 2007, para resolver a falta de recursos. Há agora, porém, conversas que envolvem revisões graduais no gigantesco emaranhado de benefícios tributários do setor privado e nas alíquotas da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) e do Cofins.
Ainda ligada aos números, outra distorção está no fato de que, apesar de receber a maior parte do financiamento, o sistema privado atende a menos de 25% da população. O que poderia refletir apenas privilégio, revela também uma enorme ineficiência. "Estima-se que o desperdício de recursos em todo o sistema varie entre 15% a 30%", diz Enrico de Vettori, sócio da consultoria Deloitte, especializado na área.
As razões são variadas e, segundo os especialistas, indicam que o setor público não é o único a precisar investir em gestão. "Há uma tendência de os associados procurarem pronto atendimentos em qualquer situação, seja ou não uma emergência, por facilidade sobretudo de horário", diz Vettori. "Só que a quantidade de médicos jovens e mal preparados nesses plantões é enorme. Inseguros, eles promovem a indústria de solicitação de exames, às vezes como complemento de renda, já que em alguns casos há comissionamento."
Reinaldo Scheibe, presidente da Associação Brasileira dos Planos de Saúde (Abramge), diz que o Brasil é o campeão mundial em número de ressonâncias magnéticas.
"Laboratórios, fornecedores de equipamentos, tecnologias e novos produtos têm lucros excepcionais no Brasil", afirma. "Cada vez que se aumenta o rol de procedimentos, eles batem palmas, mas usuários e planos ficam reféns de algo que se torna obrigatório, mas cuja efetividade é zero."
Nem sempre. Mas, para ele, o país tem equipamentos demais porque faltam definições precisas sobre quais são as obrigações e os limites do sistema de saúde. "Se são colocados dois equipamentos numa cidade, eles têm de rodar o tempo todo, como um avião numa companhia aérea, para ter resultado financeiro", afirma. "Os fabricantes de equipamentos não vendem no Canadá, por exemplo, o mesmo tanto que no Brasil porque há uma política de governo que conhece e controla a necessidade da população por esse tipo de tecnologia."
Surge dessa falta de controle público outra reclamação conhecida do setor: a judicialização do sistema de saúde, que cria incertezas e custos maiores. "O país do próximo presidente precisa sentar com legisladores e o Judiciário para dizer qual cobertura médica será dada à população", diz Scheibe. "Numa coletividade, em que um paga pelo outro, é preciso prever quanto, com quem e onde será colocado o dinheiro, para que não se gaste muito com poucos e pouco com muitos."
Uma pesquisa feita por Scheffer mostrou que, apenas no Estado de São Paulo, foram julgadas mais de 30 mil ações contra planos de saúde no ano passado. Em 2011, foram decididas 7 mil ações, com aumento de 329% no período. Isso num cenário de encolhimento do número de associados aos planos. A cada dia útil do ano passado, a Justiça concedeu 120 decisões, a maioria envolvendo negativas de cobertura, reajuste de mensalidade e reclamações de idosos. Num estudo anterior, com 4 mil decisões, em 92,4% dos casos foi dada razão integral ou parcial ao usuário.
"Um juiz que determina a uma operadora pequena, que tem caixa e obrigação de atender 20 mil ou 40 mil vidas, pagar um transplante de R$ 1 milhão para um único paciente vai quebrar a empresa e prejudicar outras 40 mil vidas", afirma Scheibe.
Para Scheffer, porém, a judicialização é um "bode na sala". "Não é um problema do tamanho que falam, mas é um evento sentinela que demonstra distorções e problemas", diz. "Se for feita uma análise histórica, a judicialização é uma efetivação de direitos à saúde."
Essa conclusão vale sobretudo para medicamentos: depois de movimentos parecidos na Justiça, foram incorporados ao sistema remédios que deram suporte a políticas públicas, como HIV/aids, hepatite e diabetes.
Como na saúde nada é simples, essa realidade cria outras distorções. Especialista em economia da saúde, a pesquisadora do Ipea Fabiola Sulpino Vieira acaba de concluir um estudo sobre os gastos com medicamentos do SUS entre 2010 e 2016. O crescimento real dos dispêndios com ações judiciais de medicamentos foi de 547%, entre 2010 e 2016, chegando a R$ 1,3 bilhão no último ano do levantamento.
Em 2015, metade das 20 tecnologias mais caras demandadas por meio do Judiciário não tinha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eram sobretudo medicamentos biológicos. "Muitos eram remédios experimentais, sequer registrados nas agências reguladoras de outros países", diz Fabiola. "Os juízes interpretam a integralidade no acesso à saúde determinada na Constituição como dar acesso a tudo o que existe no mercado", afirma Fabiola. "Só que essa integralidade significa garantir medicamentos na atenção básica, média e de alta complexidade, de acordo com a racionalidade da compra dos itens, da orientação dos prescritores, dos critérios econômicos e da racionalidade terapêutica."
Para ficar apenas num caso, um tratamento de câncer de alta complexidade é remunerado pelo SUS num pacote. Quando há demanda por um medicamento específico de fora desse sistema, quebra-se o planejamento, na hipótese de medicamento experimental, sem garantia de efetividade no tratamento. Outra distorção é que, como o acesso ao Judiciário também é desigual, as pessoas com mais recursos são sempre mais beneficiadas. "O gasto com medicamentos poderá comprometer parcelas mais significativas da receita do Ministério da Saúde, o que possivelmente reduzirá os recursos para outros bens e serviços à população, por conta do teto de gastos no governo federal", diz Fabiola.
Na judicialização, há alguns detalhes a serem destacados. Já foram feitas leis e campanhas públicas junto ao Judiciário de alerta sobre o problema. Apesar de o resultado inicial ter favorecido a visão do sistema público de saúde, depois de algum tempo as decisões retornaram a patamares anteriores. Tenta-se agora criar comissões, como existem em outros países, que embasem as decisões da Justiça.
Com uma visão mais clara sobre o sistema público, em países como o Reino Unido, por exemplo, não são autorizados tratamentos fora das regras, como ocorreu no ano passado com o menino Charlie Gard. Mesmo com a comoção das redes sociais, de pedidos do papa Francisco e do presidente Donald Trump e de crowdfunding para o tratamento da cardiopatia grave nos EUA, a Justiça britânica não autorizou sua transferência, já que ele não seria curado. Em outro país citado sempre como exemplo, o Canadá, o gasto com medicamentos usados em casos de doenças raras, graves ou de baixa prevalência que carecem de tratamentos ou de opções melhores comparadas às existentes, representou 3,3% a 5,6% do gasto total com medicamentos no período de 2007 a 2013. No Brasil, essas categorias superaram os 20%. "É preciso refletir a quem serve o Estado: a população inteira ou a pequenos grupos?", diz Fabiola.
A judicialização dos medicamentos, evidentemente, é apenas um dos muitos problemas do sistema público. Um dos mais básicos, por exemplo, é definir a porta de entrada. "O SUS é muito heterogêneo e tem vários formatos, com algumas experiências boas inclusive", afirma Scheffer. "Tem exemplos num mesmo município, como na zona leste de São Paulo, em que, mesmo com todos os defeitos, funciona bem em sua microrregulação."
As dificuldades com gestão são tão amplas que não há, no Ministério da Saúde, um estudo sobre os principais entraves do setor e as medidas a serem adotadas para resolvê-los. "Há uma mudança filosófica a ser feita que requer conhecer o que acontece no sistema", diz Barros. "Por isso a informatização é a prioridade que, após concluída, permitirá o melhor planejamento."
A prioridade da pasta colocou o prontuário eletrônico em 17 mil unidades básicas de saúde no ano passado. A expectativa é de que todas as 41 mil recebam sistema, treinamento e equipamento até o fim do ano. A mesma perspectiva, porém, foi adiada anteriormente. "Tivemos uma série de percalços porque o lobby contra a informatização da saúde é muito forte", diz Barros. "Hoje, os fornecedores faturam no descontrole e há uma resistência corporativista muito grande."
Segundo ele, a economia potencial com o sistema, no qual está sendo investido inicialmente R$ 1,5 bilhão, será de R$ 22 bilhões anuais. "As coisas têm de ser organizadas, ordenadas, e infelizmente não temos essa tradição do serviço público brasileiro, especialmente na área da saúde", diz Barros. "Os 68 mil médicos que fazem assistência básica, por exemplo, realizam 43% das consultas que poderiam fazer, se cada uma delas durasse 15 minutos por paciente", afirma o ministro. "É um descontrole total que precisa ser revisto, e por isso a biometria é uma exigência." Barros afirma que o sistema não apenas exige o registro de presença, mas obriga o detalhamento dos serviços prestados. "Temos os mesmos profissionais de saúde trabalhando no sistema público e no privado", diz. "Muitos preferem não fazer um atendimento resolutivo no público, para receber o cidadão no privado."
Classificada pelo ministro como a mais importante a ser continuada pelo novo governo, a iniciativa é vista pela maior parte dos especialistas como interessante e com grande potencial de avanço. "O uso de informações permitirá, por exemplo, a adoção de 'big data' para gerenciar compras ou as principais demandas e necessidades da população em relação à saúde", diz Leonardo Giusti, sócio da KPMG para a área.
Nem mesmo a pulverização de sistemas e modelos de gestão públicos são vistos como empecilhos para a informatização. Só na cidade de São Paulo há 11 organizações sociais de saúde que prestam serviços à prefeitura, cada uma com sua ferramenta tecnológica. "Existem soluções de barramento [mecanismo de comunicação gerenciada] que permitem puxar informações para o prontuário eletrônico único", afirma Eliane Kihara, sócia da PwC Brasil também da área. "O mesmo foi feito em Nova York, onde se conectou todo o sistema, de atendimento primário a hospitais, passando por casas de repouso, fisioterapeutas e médicos." A privacidade dos usuários, um tema bastante polêmico no exterior, ainda não ganhou repercussão no Brasil.
Se a informatização resolverá alguns problemas, outros precisarão de vontade política ainda maior. Há hoje no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, quase 1,2 mil UBS e UPAs, as unidades básica de saúde e de pronto atendimento, prontas, mas sem funcionar. Motivo: o custo anual de se manter uma estrutura de saúde é equivalente ao preço de construí-la e equipá-la. Na época de crescimento da economia, prefeitos e governadores construíram as unidades, sem se preocupar com os recursos que os manteriam, dizem os especialistas.
Apesar de renderem votos e algum auxílio à população, a maior parte dos hospitais espalhados por pequenas cidades do país também são insustentáveis. "Com menos de 70 leitos, os hospitais ficam inviáveis do ponto de vista econômico", diz Giusti. "Um grande desafio é redimensionar essa malha ineficiente porque ter acesso a um posto de saúde não quer dizer ter acesso à saúde."
Para Daniel Greca, sócio da KPMG, a solução é trabalhar em "clusters", com a atenção básica fortalecida nas microrregiões. Conforme a necessidade do tratamento aumentar, a pessoa busca os centros nos quais há mais especialistas e tratamentos. "Quando se dá atenção aos problemas primários evitam-se complicações mais caras", diz Greca. "Mas, se um tratamento maior for inevitável, cria-se aí uma rede de atendimento regional forte, bem equipada e sustentável financeiramente."
Essa, inclusive, é a maior aposta de solução de especialistas: investir e aprimorar a atenção local a saúde das famílias, com agentes comunitários, assistentes sociais, clínicas de bairro e médicos de família. "A atenção primária e o médico de família evitam episódios mais graves e a repetição de exames", diz Bernardo Sebastião, sócio da Bain & Company. É a medicina praticada no Reino Unido e no Canadá, dono de um sistema parecido com o brasileiro até algum tempo atrás. Quando foram montados os "clusters" de saúde, houve grande resistência da população. Eles, com o tempo, mostraram sua eficiência.
"Já tivemos um início desse modelo no Brasil que foi muito bem planejado", afirma Vettori, da Deloitte. "Na última década, ele foi desestruturado e apequenado, sofreu com restrições orçamentárias, mas é ali que se deveria dobrar a aposta." Segundo ele, quando o médico de família de fato chega à população resolve-se, inclusive, o problema da porta de entrada no sistema. "Inverte-se o fluxo de pacientes que deixam de procurar emergências desnecessariamente ou ficam pulando de especialista em especialista, gerando um enorme desperdício", diz.
É uma saída tão interessante que alguns planos de saúde têm tentado adotar um sistema parecido com seus próprios associados para reduzir custos. Outra iniciativa da medicina privada para melhorar seu desempenho é a adoção do pagamento por performance. Hoje, a maioria dos planos paga por atendimentos: cada consulta, raio-X, soro, esparadrapo etc. é cobrado isoladamente. "No pagamento por performance, paga-se por um pacote de serviços, com parâmetros de sucesso muito bem definidos", diz Giusti, da KPMG. "É preciso haver compartilhamento de informações entre prestadores de serviço e contratantes e os ganhos são divididos."
Há controles da qualidade do serviço prestado, evidentemente. Caso o paciente retorne por alguma complicação, por conta de um atendimento inadequado, o prestador de serviço não recebe o valor pactuado integralmente. No Estado de Nova York, onde o sistema foi implantado em 2014, os resultados foram tão surpreendentes que 80% dos serviços deverão ser orientados por esse modelo até 2019. "Há uma grande jornada a ser percorrida porque é preciso estabelecer métricas claras e transparência para ser um jogo de ganha-ganha", diz Eliane, da PWC.
No meio de tanto a ser feito, há ainda discussões profundas ocorrendo sobre o novo modelo de repasse de recursos do SUS, os índices de inflação dos planos de saúde, o excesso ou a retirada de regras do sistema privado e seu novo marco regulatório, a precarização e a efetividade das agências reguladoras, numa lista que parece interminável, cheias de prós e contras. "Do ponto de vista de gestão de população, o setor público tem a faca e o queijo na mão", afirma Eliane. "Há muitos incentivos para que ela melhore." Num copo muito vazio, qualquer gota é válida.
Fonte: Valor
Obrigado por comentar!
Erro!