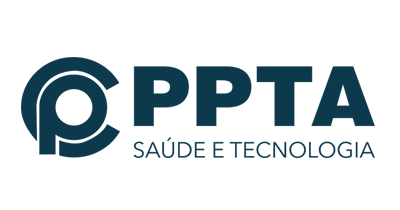Inovação, assunto à espera de uma retórica esclarecedora
SÃO PAULO - Houve época em que inovação era uma palavra de sentido pejorativo, associado a heresia na Igreja da Inglaterra (coisa de papista), ou na França católica (estigma para protestantes). O termo passaria a ganhar conotação positiva com a Revolução Industrial e o crescente reconhecimento da importância de invenções técnicas, como era mais comum dizer a princípio. Com o passar do tempo, a cultura de consumo faria o resto, com a ajuda dos grandes laboratórios de governos, nos Estados Unidos e Europa, desbravadores de conhecimento em várias frentes.

Hoje, bem estabelecido o conceito em sua forma contemporânea, faltaria reconfigurar a retórica econômica e política que envolve o assunto. É preciso difundir o entendimento claro da essencialidade do Estado como agente de desenvolvimento tecnológico e dos modos como deve dar-se sua atividade na área, lê-se no livro “The Entrepreneurial State – Debunking Public vs. Private Sector Myths”,da economista Mariana Mazzucato (Anthem Press, 2013). A mudança de discurso deverá incluir, tese central que ela propõe, a rediscussão das relações entre Estado e empresas na busca de inovação, limpando-as de mitos, para atualizar a equação que tem como variáveis custos (em grande parte socializados) e benefícios (tortuosamente privatizados).
Mariana, catedrática de políticas de ciência e tecnologia na Universidade de Sussex e professora visitante de economia da inovação na Open University, ambas no Reino Unido, dá o tom e a amplitude de sua proposta de reflexão quando escreve sobre a importância de se repensar, questionar mesmo, “mais do que nunca”, o papel do Estado na economia, “agora que se assiste à sua retirada, em muitas partes do mundo, justificada em termos de redução de endividamento e — talvez mais sistematicamente — em termos de tornar a economia mais ‘dinâmica’, ‘competitiva’ e ‘inovadora’”. Nesse discurso, as empresas são consideradas como “força inovadora”, enquanto ao Estado restaria manter-se como “força inercial”, necessária apenas para fazer o “básico”, e impedido, pelo tamanho e peso excessivos, de ser a “máquina dinâmica”.
Admita-se que produzir inovação não seja o papel principal do Estado. Mas, como diz Mariana no livro, a demonstração de seu “caráter inovador e dinâmico potencial — sua histórica capacidade, em alguns países, de desempenhar um papel ‘empreendedor’ na sociedade — é talvez a maneira mais eficaz de defender sua existência, e tamanho, de um modo proativo”. Ela cita o historiador Tony Judt (1948-2010), que, no livro “Ill Fares the Land”, fala do ataque a que o Estado do bem-estar foi submetido nas últimas três décadas, “envoltório de uma batalha discursiva, na qual se mudaram os modos de nos referirmos a ele [o Estado], com palavras, como “administration”, tomadas para mostrá-lo menos importante e menos empreendedor” (“adventurous”). De novo, uma questão de retórica. Mariana faz-se, então, advogada da revisão dos modos como se fala do Estado, “com o desmantelamento de narrativas e imagens ideológicas” e distinção entre “evidências” e “ficção”.
O livro é uma versão revista e significativamente expandida de um texto que Mariana produziu em 2011 para o “think tank” britânico Demos, sobre “O Estado empreendedor”. Com esse trabalho, ela pretendeu — não se sabe exatamente com quais resultados duradouros — convencer o governo do Reino Unido a mudar de estratégia: não fazer cortes orçamentários com o objetivo de tornar a economia “mais competitiva” e mais “empreendedora”, “mas reimaginar o que o Estado pode e deve fazer para assegurar uma recuperação pós-crise sustentável”.
“A retórica da austeridade fiscal é, na verdade, baseada numa falácia, o chamado ‘paradoxo da poupança’ , que extrapola para toda a economia o fato de que uma unidade familiar pode consumir mais no futuro porque poupa no presente. Isso não é verdade para o conjunto da economia”, disse Mariana em entrevista ao Valor. E lembra que, como Keynes demonstrou, se todos os indivíduos adiam o consumo (aumentos nas poupanças individuais), a redução correspondente na demanda agregada resultará em menor atividade econômica e, consequentemente, em menos investimento. Então, a poupança total cairá, mesmo que todos os indivíduos procurem aumentar sua poupança. “Essa falácia está implícita em medidas de austeridade propostas para situações de recessão. E é uma imagem fácil de ser aceita por pessoas que nos últimos 40 anos receberam de todos os lados a informação de que o Estado é ineficiente e gasta em excesso. Como digo no livro, da mesma forma que a imagem do mexicano preguiçoso foi uma invenção que justificou o roubo do México pelos Estados Unidos (Texas, Califórnia etc.), a imagem do Estado lerdo, intrusivo, burocrático, justifica hoje um verdadeiro roubo maciço de recursos públicos.” Evidentemente, não será num ambiente tingido por esses preconceitos, no entender de Mariana, que se encontrará espaço para os investimentos de um Estado de forte presença no desenvolvimento tecnológico.
Ao sublinhar o papel ativo que o Estado já pôde desempenhar em berços de inovação e empreendedorismo — como no Vale do Silício, nos Estados Unidos — Mariana procura mostrar que o Estado pode não apenas ser um facilitador da economia do conhecimento, mas também pode criá-la, se adotar uma visão ousada e se fizer investimentos claramente direcionados. O capítulo 5 de seu livro é todo dedicado à Apple, com exame detalhado da variedade de apoios que essa empresa líder da “nova economia” recebeu do Estado. É uma narrativa exemplar, que se desdobra, nos dois capítulos seguintes, na exposição do papel do Estado como destemido investidor por trás da revolução da internet e da tecnologia da informação e chega, enfim, ao que pode ser a presença marcante de agências governamentais na próxima grande transformação para a qual o mundo já se prepara, propiciada pela tecnologia “verde”.
Tanto no relatório como no livro, Mariana fala em Estado “empreendedor”como principal agente de um “empreendedorismo”— atitude de conteúdo genérico “que todo policymaker hoje parece pretender encorajar” —, que não é (apenas) o das empresas iniciantes, do ‘venture capital’ e dos ‘curiosos de garagem’ (provável alusão à garagem da casa de Steve Jobs, em que ele e Stephen Wosniak, seu parceiro na fundação da Apple, deram os primeiros passos no desenvolvimento do computador pessoal). Ela se refere, isto sim, a iniciativas que incorporem a disposição e a capacidade dos agentes econômicos integrarem às suas decisões as noções de risco e incerteza nos termos definidos pelo economista Frank Knight em seu livro “Risk, Uncertainty, and Profit” (1921), distinguindo uma coisa da outra e clarificando, assim, o que cabe à empresa e o que cabe ao Estado, seja no “procurar fazer”, em termos de inovação, seja no retorno justo para o que afinal for feito.
Knight diz que um mundo em permanente transformação traz novas oportunidades para as empresas obterem lucro, mas também é um mundo em que se tem um conhecimento imperfeito de eventos futuros. Portanto, a noção de risco se aplica a situações nas quais não se conhece o resultado de uma dada circunstância, mas é possível avaliar possibilidades com certa precisão. A incerteza aplica-se a situações nas quais não se dispõe de todas as informações necessárias para identificar possibilidades logo de início.
“Tentativas de chegar a uma inovação geralmente fracassam — caso contrário, não se chamaria ‘inovação’. É por isso que você precisa ser um pouco “louco” para se envolver em inovação... Vai frequentemente custar mais do que você tem como retorno, e com isso a análise de custo-benefício tradicional impedirá de imediato que se prossiga na [busca da] inovação”. Mariana recorda, então, a frase famosa de Steve Jobs, em sua fala a formandos de Stanford, em 2005, quando disse que inovadores devem manter-se “famintos e loucos” (“hungry and foolish”). Ela sugere que se pense sobre quanto dessa “loucura” já não esteve associada a inovações financiadas e orientadas pelo Estado. “A maioria das inovações radicais, revolucionárias, que alimentaram o dinamismo do capitalismo — de estradas de ferro à internet, à nanotecnologia e a produtos farmacêuticos — estão associadas a investimentos ‘empreendedores’, capital intensivos, apoiados pelo Estado.”
A inovação deve ser “sustentável e inclusiva”, também diz Mariana no livro. Pode-se entender que estão aí implícitas questões relacionadas a crescimento (no longo prazo) e distribuição de renda, cuja correlação com tecnologia constitui objeto de controvérsia entre estudiosos. Ela toma a observação para dizer, na entrevista ao Valor, que são os investimentos em diferentes tipos de capital, humano e físico (tangível e intangível) que levam ao crescimento. “Como se lê em meu mais recente “paper” com William Lazonick (“The risk-reward nexus in the innovation-inequality relationship”, a ser publicado), esses investimentos são feitos por famílias (que investem em gastos como educação para a força de trabalho), governos (que investem em infraestrutura, pesquisa, programas de treinamento e projetos de inovação) e empresas (que investem em materiais, fábricas, treinamento). A inovação só pode ser o resultado desse processo eminentemente coletivo. E o Estado, em países que cresceram por caminhos pavimentados pela inovação, desempenhou papel preeminente para além de apenas corrigir falhas do mercado.” De fato, vê-se no livro que todas as tecnologias por trás do iPhone foram desenvolvidas com recursos financeiros do Estado, frequentemente até mesmo para pesquisa “aplicada”. E a Apple (como muitas outras empresas de alta tecnologia) também recebeu financimento do Estado para suas primeiras atividades.
Mariana dá destaque aos investimentos que o Estado brasileiro vem fazendo em inovação, especialmente através do BNDES. “Pude ver dados que mostram isso. Em 2012, o BNDES investiu R$ 2,2 bilhões em inovação, com um efeito multiplicador de 1 para 4 (para cada real investido pelo banco em inovação, empresas investiram outros quatro). E 77% desses investimentos foram dirigidos para setores altamente inovadores e capital intensivos, como o de tecnologia limpa. Embora eu compreenda que o BNDES ainda desempenha o clássico papel de investir em infraestrutura e em iniciativas contracíclicas (destinações principais de seus desembolsos), o financiamento de inovação é o que poderá levar o Brasil para a fronteira avançada do desenvolvimento e permitirá que o país alcance economias desenvolvidas, e mesmo a China.”
Onde entra a questão da inclusão? Mariana começa observando que o crescimento resultante de investimentos em inovação deverá beneficiar todos os que de alguma forma deles participaram. Ou seja, se os riscos e investimentos são sociais, então os lucros também deverão ser. Em teoria, isso pode acontecer via tributação, tanto por meio de impostos pagos pelas empresas que se beneficiaram (a exemplo da Apple), como também por meio do aumento de renda (e, portanto, de tributos) da população. “O problema é que, com o passar dos anos, as alíquotas de tributação caíram a níveis tão baixos (para as empresas), e os governos tanto reduziram tributos que se tornou muito difícil haver um retorno de recursos para o governo (para então serem redistribuídos). Além disso, como muitos dos empregos vão para o exterior (recorde-se de novo da Apple), não está claro se o impacto se dará sobre a renda das pessoas que vivem na área em que os investimentos foram feitos.”
Por isso, Mariana argumenta que é preciso haver mecanismos mais diretos de retorno para os investimentos do Estado em projetos de inovação, de modo que se torne possível a redistribuição de ganhos na economia (para as áreas de educação, saúde etc.). Esse retorno poderia dar-se por meio de participações acionárias ou retenção de uma “golden share” em direitos de propriedade intelectual, por exemplo. Em sua opinião, um bom modelo, nesse particular, seria, de novo, o BNDES. ”O banco investe em infraestrutura e inovação, e obtém um elevado retorno sobre participações, que o Tesouro então retoma na forma de dividendos, e faz a redistribuição.” Em muitos países, como os Estados Unidos, esse mecanismo não existe. “Então, o governo americano basicamente deu sustentação financeira ao Vale do Silício, com socialização de riscos, mas a recompensa foi totalmente privada.”
Isso leva à desigualdade, não a um crescimento inclusivo, conclui Mariana. E como a inovação se dá de forma cumulativa, a ‘captura’ (capture) de renda pode ser muito grande — ao contrário do que acontece em condições de crescimento inclusivo, quando se distribuem benefícios de forma socialmente justa entre a população (que contribui de diferentes modos para o processo de criação de valor), sem que se privilegie um pequeno grupo de indivíduos que capturam os retornos (o processo de extração de valor).
“O fato de o Brasil, via BNDES, utilizar mecanismos por meio dos quais o Estado não apenas assume o risco de investimentos em inovação, mas também obtém retorno sobre os sucessos (de 2005 a 2007, o banco obteve mais de 500% de retorno sobre o investimento em start-ups inovadoras, diz Mariana), “torna esse modelo único no mundo, com potencial de influenciar as regras globais do jogo da inovação”.
O BNDES também aparece no livro como um exemplar agente de financiamento de projetos nas áreas de energia renovável (incluindo etanol de segunda geração) e tecnologias verdes, que Mariana vê como de indiscutível potencial. Desde a crise financeira de 2007, uma série de fatores levou vários bancos comerciais a retirar recursos de investimentos ecologicamente orientados. Quem entrou no lugar deles? Bancos de investimento estatais e outras agências governamentais, várias das quais de países em desenvolvimento, como China e Brasil.
“Acredito que países em desenvolvimento, que façam os investimentos necessários, podem tornar-se líderes na economia verde”, diz Mariana. “Verde” não se refere apenas a energia eólica, solar e biocombustíveis, “mas também à transformação de toda a economia, de modo que avance na direção verde. Isso significa reinventar os modos como as coisas são feitas, e mesmo repensar os modos como se estrutura a obsolescência de produtos”.
Nada se dará, porém, de forma automática. A economia verde será o resultado de investimentos orientados para missões. “No passado, isso significou, digamos, levar o homem à Lua. Será necessário que diferentes setores interajam, de novas formas. E isso vai acontecer apenas em países onde o governo seja capaz de mostrar-se com uma ‘visão’ dinâmica, que atraia capital. É o que acontece na China hoje. A decisão dos chineses de gastar US$ 1,7 trilhão em cinco setores-chave (todos verdes, como novos motores, tecnologias ambientalmente amigáveis etc.) não se limita à criação de um alarido em torno da economia verde, mas, de novo, trata-se de ajudar a reescrever as regras do jogo da inovação. Pode-se dizer o mesmo para Cingapura e Coreia. E, naturalmente, para a Europa, em lugares como Alemanha, Finlândia e Dinamarca (a principal supridora de serviços de alta tecnologia para a indústria verde chinesa).”
Mariana pretende que seu livro sirva como uma “exortação pública” para a mudança dos modos de falar sobre o Estado, seu papel na economia e das imagens e ideias que se usa para descrever seu papel.
Por que essas imagens e ideias — que incluem, de certa maneira, a retórica da austeridade de políticas fiscais — puderam conquistar espaço tão amplo e influência entre os economistas e policymakers? Quais seriam os principais obstáculos a superar para se modificar essa mentalidade?
Mariana começa por observar que “essa ideologia tende a ser muito mais forte em países como Reino Unido e Estados Unidos e, curiosamente, nas partes mais frágeis da Europa, especialmente países ex-comunistas, que veem ‘o mercado’ como um fetiche”. Nos países em desenvolvimento mais bem-sucedidos, como Brasil e China, há um reconhecimento do papel-chave do Estado. “Mesmo no Brasil, porém, há quem diga que o Estado ocupa indevidamente espaços que seriam da iniciativa privada — o que, evidentemente, é falso, uma vez que o Estado está fazendo [na área de inovação] o que a iniciativa privada não fará, ao investir em áreas capital intensivas de alto risco”.
Com o discurso de que o Estado não passa de um “intruso” na economia e que, no máximo, poderá ser um “consertador” de falhas do mercado, “alguns agentes puderam apresentar a si próprios como líderes em inovação, que apenas precisam [para atuar de modo adequado] de diferentes tipos de redução de impostos e de remoção de empecilhos burocráticos”. Dessa forma, “também se capacitam a capturar uma parte muito maior do bolo do crescimento que resulta da inovação”. Enfim, “há fortes interesses financeiros na apresentação do Estado como uma inconveniência [no discurso de que] sua presença rouba espaço à iniciativa privada, para justificar a recompensa desproporcional que obtêm”. Mas isso “também leva a uma situação esquizofrênica, em que as empresas querem mais e mais dos governos, ao mesmo tempo que lhe permitem coletar sempre menos impostos para custear suas necessidades. Então, o resultado é disfuncional (no longo prazo) para todos os envolvidos. Mas no curto prazo muitos se locupletam com o ‘butim’”.
"The Entrepreneurial State - Public vs. Private Sector Myths"
Mariana Mazzucato. Anthem Press. 264 págs., US$ 15,9
© 2000 – 2012. Todos os direitos reservados ao Valor Econômico S.A. . Verifique nossos Termos de Uso em http://www.valor.com.br/termos-de-uso. Este material não pode ser publicado, reescrito, redistribuído ou transmitido por broadcast sem autorização do Valor Econômico.
Leia mais em:
Obrigado por comentar!