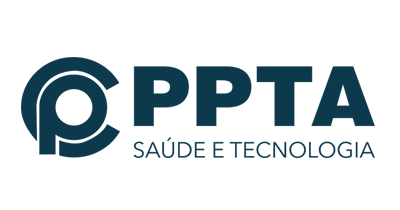Novo conceito impulsiona descobertas

Falar em inovação no Brasil pode soar um pouco desconexo se considerarmos o baixo investimento do governo em incubadoras, centros de pesquisa e desenvolvimento e universidades. Dados do Banco Mundial apontam que enquanto o Brasil destina só 1,1 % de seu PIB (Produto Interno Bruto) à pesquisa e desenvolvimento, os EUA investem 2,9%, Israel (4,4%), Alemanha (2,82%), Coreia do Sul (3,7%), China (1,7%) e Singapura (2,43%).
Se o assunto for colocado no âmbito das micro e pequenas empresas, o distanciamento é ainda maior. Mas apesar das baixas cifras, o país possui consistência nas iniciativas que conduz e nos centros de excelência que fomentam a inovação por aqui.
Tanto que o novo e ousado conceito de inovação aberta vem ganhando musculatura desde que aportou em terra brasilis, no ano de 2008. E é visto por especialistas como um ambiente capaz de promover a troca de inovação necessária para o crescimento tanto de micro como de grandes empresas.
"Esse é um modelo que surge como alternativa eficiente, rica em conteúdo acadêmico, que oferece boas oportunidades de networking e é barata a qualquer tamanho de empreendedor. As comunidades onde a inovação aberta acontece ainda são embrionárias, mas altamente sofisticadas", avalia Juliano Seabra, presidente do Instituto Endeavor do Brasil.
Essas comunidades criadas com o intuito de promover a troca de conhecimento tecnológico, mercadológico, financeiro, acadêmico e de sistemas, pretendem, em grupos específicos e controlados, unir diferentes agentes de mercado em torno de um interesse comum: descoberta e viabilização de novas tecnologias capazes de alavancar negócios em escalas cada vez maiores.
Hoje, o mercado não vê outra possibilidade de avanço econômico sustentável da pesquisa no mundo senão por meio da inovação aberta. "Desde o seu nascimento a empresa tem que pensar em inovação aberta. É pela interação com o ambiente externo que ela irá se desenvolver, conhecer parceiros e amadurecer. Das 32 empresas que eu acompanho, 15 estão criando comunidades de inovação para acelerar descobertas, crescimento e o amadurecimento tecnológico", afirma Bruno Rondani, sócio-fundador da Allagi, consultoria especializada no tema, e primeiro a trazer tanto o conceito quanto o seu idealizador ao Brasil.
Henry Chesbrough, professor e diretor executivo do Centro de Inovação Aberta da Universidade de Berkeley, foi quem cunhou fortemente a expressão após lançamento de seu livro em 2003, "Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology". Ele veio ao Brasil em 2008, a convite de Rondani para palestrar no primeiro Open Innovation Seminar, que no ano passado, em sua quinta edição, reuniu 1,7 mil participantes de empresas de todos os portes e 800 entidades, de mais 20 países. Para o professor e diretor do Centro de Estudos em Private Equity e Venture Capital da FGV-SP, Claudio Furtado, esse interesse crescente pelo tema nos faz entender que o mundo não é mais de inovação fechada.
Furtado salienta que há muito mais recurso disponível do que projeto qualificado a recebê-lo. "Isso porque alguns empreendedores sequer conhecem o mercado em que estão inseridos e a escalabilidade potencial de seu negócio. Outros não pensam a inovação sob a ótica do usuário. Daí a importância das incubadoras das universidades para auxiliá-los a entender e se preparar".
Apesar disso, hoje há um total de R$ 4 bilhões em recursos de VC comprometidos no país, calcula. O Brasil tem 384 incubadoras em operação, que abrigam 2.640 empresas, que faturam R$ 4,1 bilhões. 40% delas atuam na área de tecnologia, de acordo com um estudo da Anprotec (Associação de Promotoras de Empreendimentos Inovadores).
A primeira grande empresa a puxar o cordão do uso da tecnologia de inovação aberta no Brasil foi a Natura, em 2006.
De lá para cá, dezenas de companhias de mesmo porte trilharam esse caminho. Já entre as micro e pequenas, a Geofusion e a Scitech despontam como pioneiras.
No caso da Geofusion, o recente entendimento de que a inovação aberta poderia ajudar a dar um salto maior e mais qualificado nos negócios a fez se preparar para crescer. A empresa, especializada em aplicativos para geomarketing e OnMaps, correu em 2011 para entrar nesse circuito. "Hoje somos parceiros Intel e Criatec, fundo de investimento em tecnologia do BNDES, que nos ajudam com questões de governança, processos contábeis e de controles internos, além dos recursos injetados", afirma Pedro Figoli, fundador e presidente da empresa, que ostenta crescimento anual de 60% desde 2009.
"As parcerias foram vitais para traçarmos uma escalada no mercado internacional". A Geofusion prevê fechar 2013 com receita de R$ 15 milhões, 55% superior ao de 2012 e irá investir R$ 6 milhões em 2 anos para triplicar de tamanho. Em 2014, quer estar apta a abrir sua tecnologia a um grupo maior de clientes. "Isso ajuda a enriquecer o nosso banco de dados com informações de mercados regionais", conclui Figoli.
Se o Brasil deixou de ser mero importador para se consolidar como fabricante de stents coronários desde 2003, esse mérito se deve à visão empreendedora de Melquíades da Cunha Neto que, em conjunto com o Cietec (Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, ligado à USP), investiu no desenvolvimento de inovação aberta e tecnologia dentro no país.
Hoje, sua empresa, a Scitech, é uma referência na fabricação do produto e exporta para mais de 32 países. "Contamos com a equipe de pesquisadores e a estrutura laboratorial da USP e do Incor e a ajuda financeira e de gestão da Finep e do CNPQ", afirma Cunha Neto, que investe R$ 5 milhões anuais em pesquisa e desenvolvimento. "Tenho mais três projetos rodando com as universidades federais de Minas e de Goiás. Nossa meta é lançar 5 produtos por ano, sendo dois mais complexos e três simples".
© 2000 – 2012. Todos os direitos reservados ao Valor Econômico S.A. . Verifique nossos Termos de Uso em http://www.valor.com.br/termos-de-uso. Este material não pode ser publicado, reescrito, redistribuído ou transmitido por broadcast sem autorização do Valor Econômico.
Leia mais em:
Obrigado por comentar!