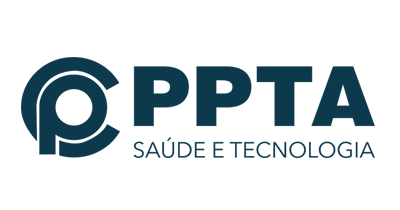A criação de projetos em parceria com o setor privado pode ser uma das saídas para a saúde pública, sobretudo, com o crescente número de beneficiários que perderam seus planos de saúde por conta do desemprego e a recém-aprovada PEC 241 de 2016 que estabelece um teto para os gastos em saúde, que costumavam crescer muito acima da inflação.
Mesmo que a nova PEC não fixe limites para áreas específicas da saúde, estabelecer um teto em um cenário de alta de custos médico-hospitalares e dependentes da saúde pública é preocupante. Por isso, as soluções que não estourem o orçamento devem ganhar força. “A demanda está aumentando seja pela tendência de flexibilização no mercado de trabalho – que pode diminuir os empregos formais-, ou pelo crescimento da população e do mundo digital que tem um grande número de autônomos”, disse a gerente de pesquisa na área da saúde da Frost & Sullivan, Rita Ragazzi.
De acordo com a especialista, para recuperar a competitividade da indústria brasileira, a reforma trabalhista é quase um caminho sem volta que pode impactar a forma que são dados os benefícios aos funcionários. “Em cinco ou 10 anos veremos um cenário muito diferente. Por isso, o setor público deverá fazer investimentos, mas é provável que parte desse aporte se dê em forma de parcerias “, comenta.
Segundo ela, as parcerias com hospitais são mais consolidadas na saúde, no entanto, chegou a hora de avançar nos modelos de contrato e até envolver outros players. “Antes tínhamos uma incidência maior de doenças infectocontagiosas e fazia mais sentido você ter um modelo hospitalocêntrico, mas agora é necessário pensar simultaneamente na prevenção de doenças”, explica Ragazzi.
Por isso, ela ressalta que as parcerias com hospitais são importantes para dar infraestrutura à população, mas junto com isso é necessário explorar o expertise de players que possam evitar o alto custo no final da cadeia (procedimentos e tratamentos mais complexos). Está na hora de se investir em atenção primária. O desembolso é grande, mas em algum momento deve ser feito”, completa.
Uma tendência já vista no País, mas não consolidada, é a parceria com a indústria. “Existe um ceticismo das empresas com o setor público, mas as farmacêuticas têm muito a se beneficiar com o governo, sobretudo, com uma série de patentes caindo e algumas empresas sendo preteridas em licitações”, menciona.
Ragazzi explica que no caso de medicamentos para tratamentos de doenças crônicas – como pressão alta e diabetes – é possível realizar contratos que vão além do fornecimento da medicação e incluam compliance na tomada do medicamento. “Você cria medidas para que o paciente seja engajado, se cuide, tome de maneira adequada e reporte informações sobre a saúde”, diz ela, ressaltando como o governo poderia aproveitar a expertise de grandes companhias.
Outra possibilidade citada pela especialista é as chamadas clínicas populares. “É uma oportunidade incrível para se pensar em parcerias”, expõe Ragazzi. Segundo ela, esses modelos têm crescido, sobretudo, pela população que perdeu seu plano de saúde, mas não está disposta a ficar na fila do SUS, o que mostra uma oportunidade grande para futuras parcerias. “Elas podem tirar proveito de maneira mercadológica e o governo pode pensar em uma brecha para atender e suportar a necessidade social com um gasto menor”, cita.
Do ponto de vista das operadoras, as oportunidades de parceria são mais limitadas, diz o diretor executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), Antonio Carlos Abbatepaolo. “Se dão mais entre operadoras que têm rede própria (de laboratórios e hospitais), porque normalmente a parceria é mais para prestadores de serviço”, diz, citando o Corujão da Saúde, parceria da Prefeitura de São Paulo com hospitais privados para diminuir a fila de espera de exames.
Mesmo assim, ele cita que os chamados planos acessíveis, que mesmo não sendo uma parceria público-privada foi uma iniciativa do governo defendida pelo ministro da saúde, Ricardo Barros, para tentar aliviar os gastos do governo com o SUS. “A ideia veio com o intuito de atender quem perdeu, quem não tinha e até pequenas empresas”, diz Abbatepaolo da Abramge.
Segundo ele, o volume de beneficiários que perderam plano de saúde não são tão representativos para o SUS. “O impacto não é tão expressivo, porque o SUS deve atender uma população de mais de 200 milhões de pessoas, então os dois milhões de beneficiários representa 1% de aumento. O problema é que o sistema já estava sobrecarregado”, destaca.
Atualmente, o projeto ainda está em debate e sem previsão de quando poderá ser lançado. A última novidade foi no dia 25 de janeiro quando a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou em nota que recebeu um ofício Ministério da Saúde com sugestões e que criaria um Grupo Técnico (GT) para analisar a viabilidade do modelo.
Adiantando as discussões com o Ministério da Saúde, Abbatepaolo- que participou das reuniões – conta que foram debatidos duas vertentes para a criação do plano. Um mais inspirado nas clínicas populares, fazendo com que o plano fique mais restrito ao atendimento primário (com consultas e exames) e o outro formato mais focado nas características regionais de cada plano de saúde. “O rol regionalizado dará condições para que pequenos planos criem produtos”, afirma.
Questionado sobre o impacto da mudança nos planos atuais, ele disse que não irá alterar os produtos já ofertados. “As empresas não vão querer sair de um formato mais robusto e contratar um mais simples porque o funcionário sente. Continua sendo uma forma de benefício”, ressalta Abbatepaolo. O foco, segundo ele, será uma população com faixa de renda mais baixa que precise de produtos mais baratos.
Um requisito pedido pelas operadoras é que o modelo seja de coparticipação (onde o beneficiário participa dos custos). “Só assim se barateia a mensalidade e diminui os desperdícios.”
Precaução
Para a sócia da área de seguros do Demarest Advogados, Márcia Cicarelli, a proposta ainda é muito abstrata para conseguir decidir o quanto pode ser positivo para consumidores, governo e operadoras de saúde. Se por um lado, ela destaca que a principal insegurança das empresas é o aumento no nível de judicialização – um dos principais problemas do setor atualmente -, Márcia destaca que um plano mais básico do que o já existente (plano ambulatorial) não aliviaria do SUS procedimentos mais caros e de alta complexidade. “Cirurgias e doenças crônicas também encarecem o custo assistencial e isso continuaria”, esclarece.
De acordo com ela, criar um produto mais simples esbarra na atual Lei 9656 de 1989 que dispõe as obrigatoriedades dos planos e seguros de saúde e no atual Rol de Procedimentos que incrementa novas tecnologias. “Não tem como dar cobertura ampla por preço baixo. As operadoras também devem lucrar de maneira legítima”, destaca ao lembrar dos planos individuais que atualmente são pouco explorados pelas operadoras de saúde, por conta do teto de reajuste definido pela ANS.
“É ilusão achar que o plano acessível vai resolver o problema da saúde, tal vez aumente um pouco a possibilidade de ter um plano e ir a um grupo maior de pessoas, mas vai ser um produto privado com muitas limitações”, diz. Algumas mudanças que tal vez sejam mais factíveis, segundo ela, são o acréscimo de um teto por beneficiário ou a obrigatoriedade de consulta com clínico geral antes de ir a um especialista para evitar desperdícios. A criação do plano acessível, para Márcia, pode ser válida, mas a mudança regulatória e legislativa necessária não devem ocorrer de forma tão rápida. “Não é uma solução de curto prazo para o problema do SUS”. Ela ainda cita que a saúde suplementar nunca vai suprir a necessidade de toda uma população. “Mesmo em países com grande capilaridade”, acrescenta. Para ela, outro problema que deve ser discutido no setor público é a gestão. “Não é só uma questão de dinheiro tem que avançar na gestão”, conclui.
Obrigado por comentar!