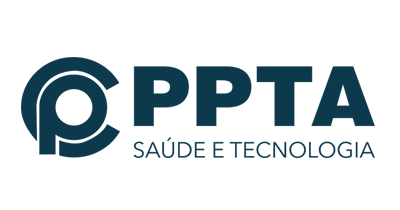Setor em estado de alerta
25/10/2016
Fonte: Valor Setorial – Saúde – 18/10/2016 Por Simone Goldberg A recessão econômica e a necessidade de ajuste das contas públicas deixaram mais evidentes os desafios da saúde no país. De um lado, há a proposta do governo de limitar seus gastos, gerando controvérsia pelo risco de redução de verbas para a área. De outro, empresas privadas perdem clientes em meio à alta do desemprego. No meio, estão cerca de 200 milhões de brasileiros, dos quais cerca de 151 milhões dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS). Outros cerca de 49 milhões possuem planos privados, mas recorrem ao SUS, por exemplo, para vacinas e transplantes. A regra constitucional em vigor hoje indica que Estados (e o Distrito Federal) devem investir o mínimo de 12% de sua receita própria em saúde e os municípios, 15%. Já a União tem de aplicar no mínimo 13,2% da Receita Corrente liquida (RCL) em 2016 e 13,7% em 2017, chegando, de forma escalonada, a 15% em 2020. Mas isso pode mudar se a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 241), em tramitação no Congresso Nacional, for aprovada. Ela limita o aumento dos gastos anuais da União à inflação por vinte anos a partir do ano que vem. Para facilitar a aprovação da PEC, o governo está propondo antecipar a aplicação dos 15% da sua receita líquida na saúde para 2017, ampliando em cerca de R$ 8 bilhões as verbas da pasta. O orçamento inicial geral da área, já encaminhado ao Congresso, prevê cerca de R$ 115 bilhões, podendo passar de R$ 120 bilhões com as emendas parlamentares. A partir de 2018, se a proposta do teto dos gastos for aprovada, a saúde terá seus recursos reajustados pela inflação medida pelo IPCA. Em 2016, o orçamento da saúde somou R$ 118,5 bilhões, já contando as emendas parlamentares. Entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Conselho Nacional de Saúde (CNS), a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Conselho Federal de Medicina, entre outras, além de especialistas em saúde, veem na iniciativa grande prejuízo ao SUS, que sofre há anos com o subfinanciamento. Dados do CNS indicam que a PEC 241 poderá acarretar perdas de mais de R$ 420 bilhões em 20 anos. Para o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, é um erro tratar a saúde como gasto. “Saúde é investimento, fundamental para o desenvolvimento humano e econômico.” Além da mobilização de várias entidades em defesa do SUS, Temporão aposta nos parlamentares ligados direta ou indiretamente à saúde para impedir que a PEC 241 seja aprovada. Do contrário, ele prevê redução de leitos e de acesso a medicamentos para a população mais pobre, entre outros efeitos negativos. “Um corte dessa magnitude afetará vários interesses, inclusive o setor privado”, diz Temporão, porque várias empresas privadas são fornecedoras do SUS. Ele reconhece que a conjuntura atual não favorece a luta por mais recursos, daí as minguadas chances de aprovação de outra emenda constitucional que está no Congresso, visando aumentar os percentuais da União à saúde. O ex-ministro acha que a sociedade deveria debater a sustentabilidade do SUS e sugere a tributação sobre alimentos industrializados, o aumento do preço do cigarro e mais impostos sobre bebidas alcoólicas. “Somos favoráveis ao equilíbrio fiscal, mas sem preservara saúde a PEC 241 trará repercussões gravíssimas”, alerta o presidente da Abrasco, Gastão Wagner. Ele diz que a saúde pública precisa, no curto prazo, de pelo menos R$ 20 bilhões a mais. E o teto de gastos aprofundará a penúria de hospitais e afetar a produção e distribuição de vacinas, como começou a acontecer em 2015. A gestão do SUS, observa, é prejudicada por indicações político-partidárias e pelo modelo fragmentado do sistema. Uma solução seria implantar as regiões de saúde, cada uma atendendo a cerca de um milhão de pessoas. “Elas não foram implantadas, porque reduziriam a autonomia de prefeitos e governadores.” Segundo o ministro Barros, as prioridades são acertar R$ 3,5 bilhões em repasses atrasados a Estados e municípios e colocar para funcionar unidades de saúde e hospitais prontos. Para cumpri-las, há uma meta de economizar R$ 3 bilhões no primeiro ano de gestão, além dos recursos do orçamento. Para ele, o corte de despesas feito com extinção de cargos e renegociações de contratos está permitindo o financiamento a várias Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), aquisição de mais medicamentos, habilitação de serviços em diversos hospitais e investimentos na produção de vacina contra meningite. Outra frente de ataque do ministério é a judicialização da saúde, que deve custar R$ 1,6 bilhão neste ano ao governo. Um acordo assinado com o Conselho Nacional de justiça(CNJ) vai dar aos magistrados subsídios técnicos para qualificar suas decisões com base em evidências científicas nas ações relacionadas à saúde. Barros também quer ampliar a informatização do SUS, incluindo prontuário eletrônico e uma base de dados integrada para melhorar a gestão. Ele diz que a telemedicina vai avançar no SUS, como forma de aumentar a eficiência da atenção básica, onde se deveria resolver 80% dos problemas, e incrementar a atenção aos idosos estimulando prefeituras a ampliar esse atendimento. O combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika, no rol das prioridades do ministério, está tendo reforço de recursos e investimentos. Um exemplo são as parcerias entre a Fiocruz e o National Institutes of Health, dos Estados Unidos, e entre o Instituto Evandro Chagas e a Universidade Medical Branch do Texas (EUA) para produção de vacinas contra a zika e pesquisas do Instituto Butatan para a vacina contra a dengue. Tais iniciativas fazem parte da estratégia para ganhar capacitação tecnológica. Há em andamento 81 acordos envolvendo 18 laboratórios públicos e 43 privados para a transferência de tecnologia e o desenvolvimento de 66 itens de saúde, incluindo medicamentos e vacinas. Os produtos dessas Parceiras de Desenvolvimento Produtivo (PDPs) respondem por 25% das compras de medicamentos pela pasta. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um dos aliados nessa empreitada. De acordo com o chefe do Departamento de Saúde do banco, João Paulo Pieroni, a emergência de saúde provocada pelo mosquito Aedes aegypti engajou a instituição em projetos de vacinas nacionais, desenvolvimento de diagnóstico e controle do vetor. Segundo ele, o complexo industrial da saúde(equipamentos, kits para diagnósticos, hemoderivados e vacinas) movimentou no ano passado cerca de R$ 84 bilhões, dos quais R$ 29 bilhões por conta do setor público, sendo RS 20 bilhões só em compra de medicamentos. O foco do apoio do BNDES é a produção nacional de medicamentos de base biotecnológica, inéditos no país e indicados para doenças como câncer, diabetes e artrite reumatóide, “Isso aumentará o acesso, a competitividade nacional e aliviará a balança comercial.” Estatísticas da Associação Brasileira da Indústria Farmoquímica e de Insumos Farmacêuticos (Abiquifi) mostram que o déficit da balança comercial de medicamentos foi de US$ 6,7 bilhões em 2015. Várias empresas produtoras de biofármacos contam com financiamento do BNDES, como Bionovis, Orygen e Libbs. Esta última inaugurou sua unidade segundo semestre. Em outra vertente, o BNDES apoia projetos hospitalares, alguns fruto de Parcerias Público-Privadas (PPPs), como três em construção no Estado de São Paulo e um na cidade de Belo Horizonte (MG), já pronto. “As PPPs são uma tendência, uma forma de Estados e municípios obterem recursos em meio à crise fiscal”, analisa Pieroni. Este ano, o banco vai desembolsar para saúde cerca de R$ 905 milhões, dos quais RS 520 milhões para projetos hospitalares e o restante em empreitadas industriais. A carteira total do setor soma R$ 9,5 bilhões, contratados de 2004 a 2016, para 221 projetos industriais e hospitalares. Levantamento da IMS Health em 2015 mostra que o Brasil é o sétimo maior consumidor do mundo de medicamentos. Em 2020, deve chegar ao quinto lugar. O envelhecimento populacional, um dos fatores para essa subida no ranking, reforça a preocupação com a falta de recursos suficientes para a saúde. “Nenhum país deixa de considerar as tendências populacionais na definição dos orçamentos para a saúde”, diz Lígia Bahia, professora de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRJ). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2013, o número de brasileiros com mais de 65 anos vai saltar de 7,4% do total da população para 26,7% até 2060. “Para que o SUS fosse financiado adequadamente seria necessário reverter o enorme montante de subsídios, isenções fiscais e gastos públicos diretos que financiam o setor privado.” As despesas com consumo final de bens e serviços de saúde responderam por 8% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2013, segundo números divulgados pelo IBGE em dezembro do ano passado. A maior parte da conta foi paga pelas famílias: 4,4% do PIB. O governo arcou com 3,6% do PIB. Já um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2015, mas com base em dados de 2012, registra que as despesas totais com saúde no Brasil foram de 9,5% do PIB. Os gastos privados somaram mais da metade. Países com sistema de saúde universal e gratuito como o SUS têm maior gasto público, como ocorre no Reino Unido: as despesas públicas com saúde chegaram a 84% dos 9,3% totais do PIB aplicados no setor. Apesar das dificuldades, Lígia vê o SUS um pouco mais preparado para lidar com os desafios da maior expectativa de vida que o setor privado, por conta de programas como Saúde da Família, de atenção básica, e Farmácia Popular, para fornecimento de medicamentos gratuitos ou com grandes descontos. Mas essa tendência parece estar mudando. A Amil, comprada em 2012 pela americana UnitedHealth, oferece um plano que contempla atendimento por médico de família. “Para atingir maior satisfação e custo acessível, é fundamental que o cuidado seja coordenado, e esta é a premissa da atenção primária”, diz o diretor médico da Amil e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Gustavo Gusso. O modelo da saúde no Brasil é confuso, diz ele, porque oferece diversas portas de entrada tanto no sistema público como no privado. Como resultado, há uma desvinculação entre paciente e médico, estimulando o uso irracional e caótico dos serviços. Diante do desemprego alto e da queda na renda, empresas de planos privados, que têm cerca de 80% dos seus clientes em planos coletivos, oferecidos pelos empregadores, viram seus números minguarem. De junho de 2015 a junho deste ano, cerca de 1,6 milhão de pessoas deixaram de ter planos. No período, foram fechados 1,5 milhão de postos de trabalho. Em junho, havia 48,5 milhões de pessoas atendidas por planos privados. A estimativa da Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge) é fechar com 48,2 milhões em 2016. O faturamento dos planos privados no primeiro semestre deste ano foi de RS 77,4 bilhões e em 2015, de RS 143,3 bilhões, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Com a perspectiva de melhora na economia no próximo ano, o diretor da Abramge, Pedro Ramos, espera começar uma curva ascendente no segundo semestre de 2017. A entidade representa 30% do mercado. “Vamos a reboque da indústria e do comércio”, diz o executivo, que não poupa críticas à ANS. Para Ramos, as multas aplicadas são desproporcionais, o rol de coberturas exigidos é cada vez mais custoso, por conta das tecnologias incorporadas, e os reajustes permitidos nos planos individuais – os coletivos são feitos por livre negociação – estão aquém das necessidades do setor. A ANS autorizou em meados deste ano um aumento de até 13,5%. Embora acima do IPCA, o índice não cobre a alta dos custos médico hospitalares, que foi de 19,3% em 2015. A Abramge apoia os planos populares, sugestão cio ministro Barros em estudo pelas entidades do setor e criticados pela OAB, pelo Conselho Federal de Medicina e por entidades de defesa do consumidor, entre outros, mas Ramos diz que eles precisariam ter um rol de cobertura “moldado”. A entidade luta contra os abusos no setor e quer aprovação da lei que criminaliza fraudes com órteses e próteses. Também apoia a ajuda técnica para juízes em ações ligadas à saúde – as demandas judiciais custaram mais de RS 1 bilhão em 2015 às operadoras. “O desperdício responde por 25% dos gastos de saúde no Brasil.” Fraudes, judicialização, inflação e perda de clientes – como também inadimplência elevada – criam um ambiente difícil aos negócios. Na avaliação da diretora executiva de consultoria em health care da EY, Adriana Gasparian, a cadeia de negócios da saúde é insustentável, devido ao alto custo dos prestadores de serviços, especialmente dos hospitais. Assim, segundo ela, operadoras vêm negociando com prestadores a definição de um novo modelo-diferente do atual, que remunera por quantidade de procedimentos – mais focado em qualidade e uma base de dados compartilhada. É justamente para melhorar o controle de custos que muitas operadoras optaram pela verticalização, investindo em rede própria, como hospitais. “É uma tendência que contínua e faz sentido”, observa Adriana. “Mas nem todos conseguem.” Em meio à crise, há uma onda de fusões de aquisições no setor, que poderá, na avaliação do sócio da área corporate finance da PwC, Márcio Vieira, elevar o nível de articulação entre os players da saúde, além de aprimorar a gestão. Nos próximos três a cinco anos, diz Vieira, devem prevalecer cinco grandes operadoras dominando mais da metade do mercado. “A consolidação aumenta a capacidade financeira e a escala confere proteção ao negócio”, destaca Vieira. A tecnologia, aposta ele, vai mudar parâmetros no setor. Equipamentos como relógios que informam dados do paciente à operadora permitirão o ajuste de mensalidades ao histórico e comportamento individual. “Mas será preciso vencer barreiras regulatórias e legais.” Em 2014, a operadora Intermédica foi vendida ao fundo americano Bain Capital. Em 2015, a Intermédica comprou a Santamalia. No segmento hospitalar, a United Health, dona da Amil, adquiriu, no fim de 2015, o hospital Samaritano de São Paulo. Estes são alguns exemplos dos 84 negócios envolvendo o setor de saúde no Brasil nos últimos dois anos e meio, de acordo com dados da PwC. Outra pesquisa, feita pela consultoria KPMG no primeiro semestre de 2015, com mais de 120 executivos da área de saúde, revela que 91% pretendem expandir negócios nos próximos dois anos. Na avaliação do sócio da KPMG e especialista em saúde Marcos Boscolo, a crise abriu espaços para novos negócios, como clínicas populares, criticadas por Ramos, da Abramge, que as vê como “fura-fila do SUS”. “Esses serviços, em que o paciente paga por uso, funcionam como alternativa para o público de baixo poder aquisitivo”, diz Boscolo. Outra modalidade de negócio com possibilidade de expansão, na visão do líder de saúde da consultoria Delloite, Enrico de Vettori, são os cartões de saúde pré-pagos associados a bandeiras de crédito tradicionais, para pagar procedimentos simples. Ele diz que o mercado brasileiro de health care perde apenas para os Estados Unidos e os investidores estrangeiros, como os fundos de private equity, ajudam na melhoria da governança para depois revender os ativos a um investidor estratégico. Para Vettori, os investidores estão mais interessados em hospitais, onde há maior espaço para consolidação. A Rede D’Or de hospitais é ilustrativa do apetite internacional: ganhou, no ano passado, o fundo americano Carlyle e o fundo soberano de Cingapura como sócios, depois que a lei permitindo capital estrangeiro nos hospitais foi sancionada. “Há perspectiva de alto retorno em saúde com a redução de ineficiências gerenciais.”
Fonte: Abramge
Obrigado por comentar!
Erro!