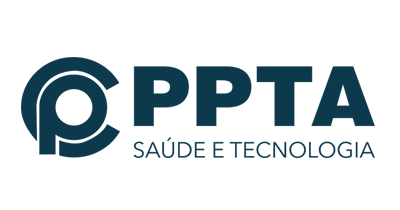O economista Paulo Furquim, do Insper, acaba de coordenar uma ampla pesquisa encomendada pelo IESS (Instituto de Estudos da Saúde Suplementar) que traça um diagnóstico do setor de planos de saúde. O estudo traz sugestões para contratação e remuneração, modelos de pagamento, protocolos médicos e para atenuar os efeitos da chamada judicialização.
Para o economista, o atual modelo é insustentável e favorece o desperdício e a sobrecontratação. Maior transparência, criação de indicadores de qualidade e mudança do modelo de remuneração são algumas das principais propostas do especialista.
Folha – Com a queda no número de usuários de planos de saúde, o governo Temer tem falado em criar planos populares. Até que ponto o sistema atual pode dar conta das necessidades do país?
Paulo Furquim – O sistema atual não é sustentável. Se tomarmos nos últimos 15 ou 16 anos, houve um crescimento muito grande, mas o modo com que ele lida com os custos da saúde, com a incorporação de tecnologias, faz com que fique insustentável economicamente com o passar do tempo. É importante rever esse sistema, isso é quase uma unanimidade.
As várias etapas da cadeia produtiva têm queixas muito grandes. Essa parte de planos populares é uma reação clara a duas coisas. Uma, obviamente, é a crise. A outra é que fica de fato um espaço entre o SUS e os planos de saúde.
O que a gente precisa ver é como será a regulação desses planos populares. Se for exatamente a mesma, o que a gente verá é, na verdade, uma deterioração do serviço. Os planos populares não serão mais eficientes necessariamente, mas com um atendimento mais precário. Isto obviamente não é uma solução.
Entres as medidas para aumentar a eficiência do sistema, transparência é a mais importante?
Acho que o mais importante, em um modo de se expressar, é “empoderar” o consumidor, aquele que decide, dar informação de qualidade para ele. A transparência é importante no sentido de ter informação, mas tem que ser uma informação que permita a comparabilidade não só do plano de saúde, mas sobretudo do hospital, de médicos e de laboratórios.
Hoje, na ocorrência de uma doença, o hospital coloca todos os custos que cabem naquela doença e o plano de saúde cobre. Vai ficando um sistema de sobreuso de exames, de consultas, de cirurgias que não deveriam ser feitas. É [preciso] mudar as regras de remuneração, este problema que eles chamam de ter a “conta aberta”. O modelo [de remuneração] que tem sido mais bem-sucedido no mundo é o DRG [Diagnosis Related Groups].
Basicamente ele consegue, com muita informação acumulada, definir para uma determinada doença um diagnóstico referente a uma pessoa que tem certas características e o procedimento que vai ser feito em um determinado hospital.
Para isso ser efetivo, não seria necessário um sistema muito eficiente de informação e confiável por todas as partes? Isto é factível hoje?
Certamente é possível, já há algumas experiências. Também não precisa ser para a totalidade dos hospitais. Quem deve implementar? Aí há um papel importante da ANS [agência reguladora] de coordenar os esforços de uniformização. O DRG que funciona melhor, como no Reino Unido e Suécia, tem os elementos que incorporam qualidade. Se você simplesmente definir um preço fixo para o hospital, ele pode ser incentivado a diminuir ao máximo os custos, eventualmente deteriorando a qualidade. É importante que o DRG incorpore elementos de qualidade. Na Suécia e no Reino Unido, se há reincidência, necessidade de reinternação, aquele paciente é reinternado gratuitamente.
A concentração das operadoras está acontecendo de forma saudável ou predatória, em prejuízo dos segurados?
A concentração não tem uma face única e clara. É, sim, em benefício dos segurados, porque alguns dos planos que deixaram de existir tinham um problema de solvência, e se suas carteiras são assumidas por outros planos eles [beneficiários] continuam com o provimento de serviço. Como o sistema está ficando mais caro, parte da consolidação é a saída desses que são mais ineficientes. No nosso estudo, a única categoria que tem tido rentabilidade positiva é a dos planos grandes. No caso dos planos pequenos e médios, eles têm tido uma rentabilidade negativa, o que é preocupante.
A abertura dos planos para grupos estrangeiros tem dado os resultados esperados?
Ainda considero pequeno. É interessante notar que isso ocorreu na cadeia produtiva inteira: em laboratórios, em hospitais e em planos de saúde. Em planos de saúde, esse processo ainda é relativamente pequeno. E a maior parte foi de aporte de capital, de fundos de investimento, mas mantendo uma gestão local, o que é positivo. Por que esse capital não modificou tanto a oferta de serviço propriamente dito e modificou mais a composição do capital? Porque um grupo de saúde norte-americano, por exemplo, tem muito a aprender no mercado brasileiro, que é completamente diferente. Mas a tendência é que eles tragam estas metodologias de gestão.
A ANS deveria ter uma atuação maior?
Nesse ponto talvez eu divirja de várias pessoas que entrevistamos, principalmente de hospitais. Entendo que a ANS tem feito um papel importante, ainda limitado por algo que não depende dela. Uma coisa que a ANS poderia avançar é coordenar um processo de formação de um banco de informações de indicadores de qualidade da cadeia produtiva inteira, que seja de adesão voluntária.
Projetos como “segunda opinião” [desenvolvido pelo Hospital Albert Einstein, em que há consulta a outras equipes médicas sobre necessidade de cirurgias recomendadas] podem ser ampliados para o setor como um todo?
Você citou um dos programas que acho mais animador. Foi um projeto-piloto, mas revelou algo que todo mundo já falava. Que havia muito desperdício da pior natureza: a prescrição de cirurgias que não são necessárias em níveis muito elevados. A ideia é restringir a discricionalidade que o médico individualmente tem. É algo que respeita a deferência que se deve ter ao médico, mas não exclusivamente ao médico que está encarregado do caso. Tem uma outra medida que vai nessa direção, que são as diretrizes médicas. Uma entidade, um grupo de médicos, define para um determinado diagnóstico o que deve ser feito. Esses projetos têm o papel de revelar de modo inequívoco algo que sempre se suspeita, que está havendo sobreutilização da saúde, muitas vezes em prejuízo do paciente, e de mostrar uma solução concreta para o problema replicável em escalas ampliadas.
Obrigado por comentar!