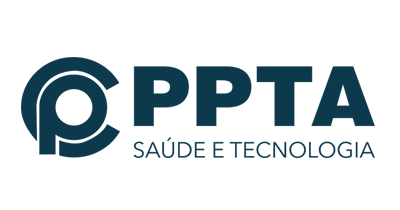Na primeira década deste século, houve uma concomitante expansão de gastos públicos, sobretudo sociais, e manutenção da austeridade fiscal. Isso só foi possível, em grande parte, devido ao excepcional desempenho da receita tributária: a carga global cresceu de 30,6% para 34,8% do PIB, entre 2000 e 2008 (segundo metodologia mais ampla). Muitos fatores explicam esse fenômeno, como aumento da formalização do mercado de trabalho, com forte impacto na arrecadação previdenciária; commodities com preços favoráveis, impulsionando o setor externo; utilização da demanda reprimida das famílias, estimulando o mercado interno e aumentando a lucratividade empresarial; e, por fim, o esforço para aumento da carga tributária, com ampliação de alíquotas e bases tributárias, além da criação de novos impostos e contribuições (Schymura, 2016). A partir da crise financeira global, houve uma quebra estrutural dessa tendência, de modo que o indicador declinou até 33,3% do PIB em 2014, com expectativas de manutenção da trajetória nos dois anos seguintes.
Chamamos a atenção para essa mudança no padrão de financiamento público porque em muitas áreas de ação pública ainda prevalece a antiga concepção de que a receita sempre cresceria mais que a economia.
Este é o caso da saúde pública. Seus defensores batalharam para que seus gastos fossem custeados por uma vinculação da receita de impostos, ignorando que esta tem caráter pró-cíclico, residindo aí a maior de suas contradições: tal despesa se torna mais pressionada justamente quando a arrecadação definha. Neste cenário, é inegável que uma receita decrescente será insuficiente para gerar um gasto mínimo na saúde que, por sua vez, é cada vez mais pressionado.
Curiosamente, no lugar de se revisitar o padrão de financiamento, a opção atual é inversa: é reforçada ainda mais a aposta na mesma forma de vinculação sobre a receita passando a se buscar uma porcentagem cada vez maior sobre uma base que tem sido cada vez menor. Depois de três emendas constitucionais, tramita no Congresso projeto para nova reforma e na mesma direção. É um caso clássico de ilusão matemática: quando se percebe que não se consegue mais elevar a receita, se prega um aumento do percentual pressupondo que demais gastos públicos são menos relevantes e podem ser comprimidos e/ou que a tendência deficitária pode ser permanente. Discutir que a economia brasileira e suas finanças publicas sofrem ciclos, e pior, que às vezes se transformam em depressão, segue fora da agenda da saúde pública e de outras políticas sociais.
Vale resgatar brevemente a história recente deste segmento em particular. A Constituição de 1988 inovou com a seguridade social, mas proporcionou uma perda de espaço da saúde em favor da previdência e, posteriormente, da assistência social. A saúde serviu de pretexto para ser recriado o chamado “imposto sobre cheque”, rebatizado de CPMF, pela Emenda Constitucional no 21 de 1999, mas esta apenas substituiu outras fontes de recursos e, posteriormente, ainda foi desvinculada, de forma que não elevou o gasto federal nessa função. A reação foi se inspirar na vinculação da educação e, com a Emenda Constitucional no 29 de 2000, se passou a exigir do governo federal que a variação do gasto com saúde seguisse a do PIB e dos governos subnacionais um percentual mínimo da receita de impostos para a saúde pública. A expectativa era de ganhos substanciais, que não se materializaram plenamente (Dain, 2007). O principal avanço foi na descentralização do SUS, especialmente com presença crescente dos governos municipais. Não por acaso, houve mobilização para aprovar uma nova Emenda Constitucional, no 86 de 2015, cuja alteração mais importante foi estender a vinculação da receita de impostos também para a União, aumentando sua participação no setor.
A evolução do gasto federal com ações na saúde na última década e meia mostra que as sucessivas reformas constitucionais não evitaram uma razoável oscilação e, na média, um viés baixista – o gasto de 1,62% do PIB em 2014 ficou aquém do melhor resultado de 1,75% em 2009 e abaixo até do registrado entre 2000 e 2002.
Nova frustração pode se repetir porque a vinculação constitucional não pode resolver a questão essencial, que é o desempenho decrescente da carga tributária. Simulações indicam que redobrar apostas na vinculação da receita não deve acarretar grandes ganhos de recursos. O gasto efetivo da União com ações e serviços públicos de saúde em 2014 foi de R$ 91,9 bilhões, ligeiramente superior ao mínimo constitucional de R$ 91,6 bilhões. Se neste mesmo ano a aplicação mínima no setor fosse de 15% da Receita Corrente Líquida, o gasto mínimo do governo central deveria ser de R$ 96,3 bilhões, superando em R$ 4,4 bilhões a despesa executada (aumento de 4,7%).
A análise ex ante (baseada na suposição de que a receita continuaria tendo resultados favoráveis frente ao PIB) mostra vantagens na adoção de vinculação de receitas. Entretanto, a análise ex post deve mostrar sinais de que a escolha pode ser problemática, pois há uma potencial perda com a regra vigente. A inversão de tendência da carga tributária é fato e constitui ponto nevrálgico. Para a frente, não se deve esperar mudança grande desse padrão mesmo que a economia volte a crescer. Ribeiro (2016) corrobora a hipótese de quebra estrutural na arrecadação a partir de 2009, mostrando que a elasticidade da arrecadação tributária do governo federal com relação à atividade econômica caiu de 1,59, no período 2000-2008, para 0,98, no período 2009-2015. Em outras palavras, até 2008 a arrecadação crescia 1,59% para cada aumento de 1% do PIB; enquanto de 2009 em diante, o aumento de 1% do PIB proporcionou incremento de apenas 0,98% da arrecadação federal. No nível dos governos subnacionais, o cenário é ainda mais desolador. A principal receita estadual, o ICMS, se tornou um imposto obsoleto: alcança basicamente bens numa economia cada vez mais baseada nos serviços; peca por uma guerra fiscal desenfreada; e concentra a incidência em bases com crise estrutural, como combustíveis, telecomunicações e energia. Já as prefeituras resistem a explorar o potencial do IPTU. E pior, ambos os governos sofrem com o esvaziamento das bases de cálculo dos fundos de participação.
Por princípio, é um equívoco financiar de forma pró-cíclica um gasto público que é inelástico pela própria natureza. A recessão já se transforma em depressão no Brasil e exacerba essa contradição: desemprego crescente e renda em queda estão tirando grande contingente de pessoas do mercado privado de saúde, o que certamente exercerá pressão no sistema público, que demandará cada vez mais recursos para sobreviver. Deve-se ainda considerar as transformações decorrentes da transição demográfica e epidemiológica em curso no país, que além de demandar mais recursos para a prestação de serviços médicos e hospitalares, desafiarão a própria estrutura de gestão e organização do SUS nas próximas décadas.
Enfim, é premente rediscutir o financiamento da saúde e mesmo de outros gastos sociais diante de uma nova realidade econômica e fiscal. Uma alternativa poderia ser exigir de cada governo a aplicação de um valor mínimo por habitante, o qual poderia ser alterado entre governos e ao longo do tempo (o plano plurianual poderia servir de referência para tal fixação). Não adianta apostar em mais do mesmo e investir na ilusão da porcentagem porque, no fundo, isso não equacionará o terrível desafio que enfrenta o financiamento e a organização da saúde pública no Brasil.
Obrigado por comentar!