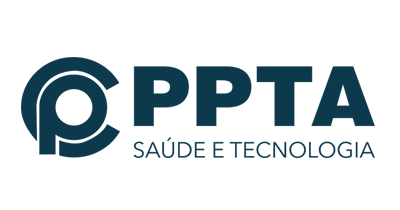Brasil leva surra dos EUA em produtividade: como melhorar?
Revista Exame
14/03/2013
Brasil leva surra dos EUA em produtividade: como melhorar?
O trabalhador brasileiro em média gera um quinto da riqueza gerada pelo americano. Para se tornar uma nação rica, o Brasil precisa aprender a produzir com mais eficiência
Fabiane Stefano e Humberto Maia Júnior, de Exame
São Paulo - No início do século 20, o americano Henry Ford cunhou uma frase que continua presente nos manuais de gestão: “Há uma única regra para um industrial: faça produtos com a melhor qualidade possível, ao menor custo, pagando os salários mais altos que puder”.
Hoje óbvia, a lição de Ford foi tirada das experiências da primeira linha de montagem de carros, criada em 1913, em Highland Park, em Michigan. Nela, o operário passou a repetir a função de inserir as peças nos veículos, movidos numa esteira. O propósito dessa organização foi ganhar produtividade.
Cada empregado da Ford recebia 5 dólares ao dia — o dobro da média americana da época. No sistema fordista, um carro passou a ser montado em 98 minutos, com qualidade, preço baixo e volume de produção. O método, que exigia grande investimento em máquinas, foi amplamente copiado e transcendeu as fronteiras do setor automotivo e dos Estados Unidos.
Um século depois, a obsessão de Ford pelo aumento de produtividade de homens e máquinas continua a ser um mantra. Do chão de fábrica, ela migrou para a agricultura, para a construção e para os serviços — e ganhou a dimensão das nações. Hoje, a produtividade é vista como uma medida da eficiência no uso de fatores como o capital e o trabalho.
A capacidade de fazer mais com os recursos disponíveis se tornou também um atalho para o desenvolvimento. “A melhor maneira de um país enriquecer é conseguir que cada trabalhador produza mais”, diz o economista José Alexandre Scheinkman, professor da Universidade de Princeton.
A má notícia é que o Brasil, país de renda média que almeja ser rico um dia, emperrou nesse quesito. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a produtividade brasileira está estagnada há três décadas. Nos anos 80, ela encolheu 1,35% ao ano. Continuou a cair à média de quase 1% ao ano na década seguinte.
Nos anos 2000, avançou apenas 0,9% por ano, cifra insuficiente para zerar os tombos anteriores. O que está em jogo não é mais uma estatística mirrada, como tantas outras do Brasil. Trata-se da capacidade de o país continuar crescendo com vigor. O crescimento da economia na última década ocorreu graças à incorporação de milhões de pessoas ao mercado de trabalho e à forte demanda internacional por nossos produtos.
Tudo isso foi ótimo para o Brasil. Mas dificilmente esses fenômenos se repetirão daqui por diante. Ou seja, a fase fácil do crescimento acabou. Agora, o país vai precisar tirar mais de cada máquina e de cada trabalhador. Para reconquistar o brilho, precisamos — já — vencer a batalha da produtividade.
Ao longo da história econômica, os acadêmicos têm tentado entender o peso da produtividade no desenvolvimento das nações. Em 1776, o escocês Adam Smith já lançava os primeiros conceitos que envolviam a produtividade e a especialização da produção industrial. Smith dizia que, ao confeccionar alfinetes, mesmo um artesão habilidoso não conseguiria produzir mais que 20 peças por mês.
Já numa fábrica de alfinetes, o processo envolvia 18 etapas e dez funcionários, que, à medida que se especializavam, conferiam mais velocidade à tarefa e davam volume à produção. No início do século 19, em plena Revolução Industrial, as empresas têxteis de Lancashire, no norte da Inglaterra, provaram que trabalhadores capacitados e tecnologia resultavam em alta produtividade.
A Inglaterra tornou-se o grande fornecedor de têxteis no mundo — e outros setores industriais passaram a seguir o caminho da mecanização. O grande salto acadêmico, porém, veio só em 1950, quando o economista americano Robert Solow, ganhador do prêmio Nobel e considerado o papa do assunto, conseguiu computar os efeitos da produtividade na economia, provando assim seu potencial transformador.
Nas palavras de outro vencedor do Nobel, o economista Paul Krugman, “produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo”. Ou seja, ela é a chave para pavimentar a rota de um país para o enriquecimento.
Hoje, um trabalhador brasileiro gera perto de 22 000 dólares por ano de riqueza. O americano, cerca de 100 000 dólares. Ou seja, são necessários cinco brasileiros para produzir a mesma riqueza que um americano. A enorme diferença faz sentido. Afinal, os Estados Unidos investem seis vezes mais do que o Brasil.
A produtividade maior também gera uma recompensa: a renda per capita dos americanos é cinco vezes a nossa. Tudo está interligado. Isso não quer dizer, porém, que os brasileiros trabalhem pouco. Ao contrário, dedicamos mais horas ao trabalho do que a população da maioria dos países ricos, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho e da OCDE, o clube das economias desenvolvidas.
Mas horas de trabalho e resultado em termos de produção são coisas diferentes. Veja o exemplo da Alemanha. Entre os mais produtivos trabalhadores da Europa, os alemães enfrentam jornadas de, em média , 38 horas de trabalho semanal — ante 44 horas dos brasileiros — e desfrutam de 40 dias úteis de férias por ano, o que os coloca entre os recordistas europeus em folgas.
Mesmo com uma jornada menor, o trabalhador alemão é quatro vezes mais produtivo do que o brasileiro. “A questão está na qualidade do trabalho, e não na quantidade”, diz o economista Samuel Pessôa, da consultoria Reliance.
As lições de Estados Unidos e Alemanha mostram que a produtividade é uma síntese das escolhas das nações ao longo do tempo. Aquelas que investiram na educação, na infraestrutura e nas instituições fortes têm uma economia mais eficiente e, portanto, mais rica. No caso do Brasil, infelizmente, a baixa produtividade é o resultado de muitos fracassos.
O sofrível nível educacional é um deles. Os brasileiros têm, em média, 7,5 anos de escolaridade — ante 12 anos dos americanos. Aqui, apenas 11% da população tem diploma universitário — quase a mesma proporção de 30 anos atrás. E pior: só 35% dos alunos do ensino médio são plenamente alfabetizados — ou seja, têm condições de entender plenamente um manual.
Esses indicadores ruins da educação se refletem no campo do trabalho. Nas grandes empresas brasileiras, apenas 13% da força de trabalho tem formação superior — nas pequenas empresas a situação é ainda mais grave, 7%. Isso leva a um desdobramento igualmente grave: falta capacidade de inovação.
Em 2010, o Brasil registrou 22 681 pedidos de patentes — os Estados Unidos, quase meio milhão. Investimos apenas 1,2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, um terço do esforço japonês. Tudo isso explica a dificuldade das empresas brasileiras para atuar num ambiente cada vez mais tecnologicamente competitivo.
A fabricante de software Totvs, de São Paulo, que emprega 5 600 pessoas, acabou de abrir um escritório na cidade americana de Mountain View, no Vale do Silício — onde fica a sede do Google. A Totvs contratou lá 12 funcionários para realizar o desenvolvimento completo de software, algo que tem dificuldade aqui.
“Simplesmente não há gente para fazer isso no Brasil”, diz Laércio Cosentino, presidente da Totvs. Para piorar, um funcionário brasileiro leva até 120 dias para ser treinado. Nos Estados Unidos, isso é feito em 30 dias. “O americano já chega à empresa pronto”, diz Cosentino.
O fato é que a contribuição da produtividade ao crescimento econômico tem sido modesta no Brasil. Os surtos recentes de crescimento foram impulsionados basicamente por aumento de demanda. Quando o consumo estava em alta e a produção alcançava o limite, entrava em ação uma mão de obra ociosa que, ao primeiro sinal de desaceleração da economia, era descartada.
Isso fez com que a massa de desempregados atuasse como um colchão para amortecer os altos e baixos da atividade econômica. Na última década, a situação mudou. A economia brasileira cresceu 40% e absorveu boa parte do estoque de trabalhadores antes alijados do mercado.
No período de 2003 a 2011, a taxa de desemprego caiu de 12% para 6%. Tratou-se, obviamente, de uma excepcional notícia para o país. Num cenário de quase pleno emprego, porém, a competição entre as empresas pelos mais capacitados se acirra.
“Quando os aumentos salariais não são acompanhados de elevação de produtividade, isso significa que as margens das empresas estão sendo corroídas”, diz o economista Fabio Giambiagi, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A consequência disso: menos lucro, menos capacidade de competir e menos fôlego para fazer investimentos.
Ritmo chinês
Um estudo inédito da consultoria Boston Consulting Group mostra que mais de 70% do crescimento brasileiro na última década foi resultado justamente da incorporação de mão de obra ao mercado de trabalho. Nos 3,7% de expansão média do PIB de 2001 a 2011, o aumento do nível de emprego e a expansão da população ativa responderam por 2,7 pontos.
A produtividade somou apenas 1 ponto percentual à média. Enquanto isso, em outros grandes emergentes, o avanço do PIB veio principalmente do aumento de produtividade — no caso da China, ela respondeu por 93% da taxa de crescimento econômico da última década.
Cada trabalhador chinês gera uma riqueza de quase 9 000 dólares por ano — ainda menos da metade da dos brasileiros. No entanto, a produtividade chinesa vem crescendo à taxa de 9% ao ano. Se os dois países continuarem no mesmo ritmo, os chineses deverão ultrapassar os brasileiros em riqueza adicionada em 2024.
Ou seja, daqui para a frente, o ritmo de crescimento econômico no Brasil vai ser ditado pelo que ocorrer na produtividade. Apenas para manter a média de expansão do PIB dos últimos dez anos, será necessário duplicar o crescimento da produtividade para 3%.
Uma das razões da estagnação da produtividade nas últimas décadas é o baixo investimento. Em 1990, para cada brasileiro empregado havia um estoque de equipamentos de 41 000 dólares. Em 2010, a correlação permanecia praticamente a mesma.
No mesmo período, os Estados Unidos elevaram o estoque de equipamento por empregado de 169 000 para 245 000 dólares, ampliando uma diferença de capital investido que já era grande em relação ao Brasil.
A construção civil é um dos setores que ainda apresentam baixa mecanização. As casas e os prédios residenciais brasileiros são erguidos de maneira quase artesanal. “Usar tijolo e argamassa para assentar paredes é um método fora de uso em países desenvolvidos”, diz Alessandro Vedrossi, diretor executivo da construtora Brookfield.
Enquanto no Brasil dois funcionários constroem 17 metros quadrados por dia no sistema de alvenaria, nos Estados Unidos uma dupla de operários levanta de 40 a 50 metros quadrados por dia com material pré-moldado. Isso reduz dramaticamente o tempo de execução. “Se aqui um empreendimento com duas torres de 35 andares exige até 1 500 trabalhadores e leva 42 meses para ficar pronto, os americanos erguem uma obra dessa magnitude em 30 meses e com metade dos funcionários”, diz Vedrossi.
O baixo nível de investimento é resultado também de uma iniciativa privada extremamente pulverizada. Dos cerca de 5 milhões de empresas existentes no Brasil, 90% têm menos de dez funcionários. Nos Estados Unidos, as microempresas representam 54% do total.
Quanto menor o porte da empresa, maior a dificuldade em levantar capital e adquirir tecnologias — pelo menos no Brasil. Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostra que as pequenas empresas precisam de quatro vezes mais capital e trabalho para gerar a mesma quantidade de produção que as grandes companhias.
“O Brasil é deficiente em todos os fatores importantes para a produtividade, como inovação, educação e infraestrutura”, diz Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. “Não fazemos nada do que o manual recomenda para sermos mais produtivos. O resultado está dado.”
Um exemplo disso está no arcabouço legal. As cerca de 180 000 leis em vigor no país e a complexidade de lidar com elas no dia a dia impõem uma burocracia infernal na vida das empresas. O grupo mineiro Tracbel, de revenda de tratores, precisa manter 23 pontos de reposição de peças em dez estados e em Brasília.
Ter tantas filiais não é um indicativo de pujança da empresa, que fatura 900 milhões de reais por ano. É, sim, uma estratégia para se defender de custos extras causados pela insanidade das regras tributárias — e que, ao final, drenam parte de sua produtividade. Uma peça de reposição é onerada em 35% caso ela saia do depósito central da Tracbel, em Sumaré, no interior paulista, com destino ao Rio de Janeiro, por exemplo.
As unidades espalhadas pelo país, com estoques próprios, são o jeito de evitar a mordida fiscal. “Se não fosse pela burocracia, poderíamos ter apenas três almoxarifados”, diz Adriano Merigli, presidente da Tracbel. Manter a atual estrutura custa caro: são gastos 10 milhões de reais por ano com os depósitos.
Há 43 funcionários nas filiais, 18 deles só para cuidar da parte tributária — ou seja, que nada acrescentam de produtivo ao negócio. “Há pouco tempo visitei uma revendedora do mesmo porte que o nosso na Noruega”, diz Merigli. “Lá, três pessoas fazem o mesmo trabalho que as 18 que preciso manter aqui.”
Qualquer tentativa de ampliar a produtividade no Brasil também esbarra na rigidez das leis trabalhistas — algo que, felizmente, parece estar entrando no rol das preocupações da presidente Dilma Rousseff. Um dos defeitos dessa legislação é tratar de forma linear os diferentes setores da economia.
Criada em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho não contempla, por exemplo, a sazonalidade típica de algumas atividades nem leva em conta os altos e baixos da economia. A fabricante de autopeças Bosch conhece bem as dificuldades de operar num ambiente com pouca flexibilidade.
Em maio, antes de o governo reduzir o imposto dos carros para incentivar o consumo, as vendas do setor automotivo estavam em queda e isso refletia diretamente na produção da Bosch. Com menos produção, mas com o mesmo efetivo, a produtividade da empresa alemã no Brasil caiu 20% — situação que se repete sempre que seus clientes diminuem as encomendas.
“Se a lei permitisse a diminuição da jornada com redução salarial, o número de horas trabalhadas por funcionário seria suficiente para atender à demanda e a produtividade se manteria”, diz Besaliel Botelho, presidente da Bosch.
Ilhas de excelência
Um dos raros setores no Brasil que têm conseguido romper a barreira da inércia na produtividade é a agricultura. Resultado do melhoramento genético de sementes e da adoção de máquinas no campo, uma parte da agricultura nacional deu um salto de eficiência.
Nas últimas quatro décadas, a produtividade agrícola tem avançado, em média, 3% ao ano. O melhor exemplo dessa transformação ocorreu nas lavouras de soja. No início dos anos 70, 1 hectare produzia cerca de 1 400 quilos do grão — a mesma quantidade extraída da terra nos anos 30.
Em 2011, o Brasil alcançou o topo da produtividade mundial de soja e colheu, em média, 3 115 quilos por hectare plantado. A alta produtividade do cultivo de soja, porém, não é regra no país. Ao contrário. Estima-se que apenas 20% dos produtores rurais brasileiros operem com produtividade considerada média ou alta — resumindo a elite do campo a menos de 1 milhão de agricultores.
Isso explica por que, apesar dos avanços consistentes e contínuos em produtividade, cada trabalhador da agricultura gera por ano 12 000 reais em riqueza, o equivalente a um quarto da média do setor industrial.
O hiato de produtividade entre a elite da agricultura e o produtor comum se repete também na indústria e nos serviços. Nesse setores também convivem empresas operando no estado da arte com outras que produzem de forma rudimentar. “Diante do aumento dos custos com mão de obra e da redução das taxas de juro no Brasil, as empresas deveriam aumentar seus investimentos em automação para elevar os ganhos de produtividade”, diz Júlio Bezerra, sócio da consultoria BCG.
É essa receita que vem sendo adotada por empresas que já fazem parte das ilhas de excelência da indústria. A Alpargatas, por exemplo, está destinando 177 milhões de reais à construção de uma nova fábrica na cidade mineira de Montes Claros, que foi concebida para dobrar a produtividade da linha de produção de sandálias.
Um executivo da empresa ficou dedicado durante um ano à pesquisa de soluções para acelerar o processo produtivo, visitando fornecedores de equipamentos em cinco países. Até a arquitetura da fábrica foi repensada. “Hoje, levamos 13 horas para produzir um par de Havaianas”, diz Márcio Utsch, presidente da Alpargatas. “Na nova fábrica, o tempo cairá para 7 horas.”
Buscar saídas para tornar a produção mais eficiente é um objetivo que está na mira da elite corporativa. Uma pesquisa realizada por EXAME com 113 empresas da lista das 1 000 maiores do país mostra que mais da metade delas investiu, no último ano, em melhoria de processos e gestão para elevar a produtividade — estratégia que deverá ser repetida nos próximos 12 meses por 60% delas.
Ou seja, boa parte das companhias pretende tirar mais do mesmo antes de investir em máquinas ou em expansão da capacidade. Foi isso o que a multinacional alemã Basf fez em 2010. A capacidade de produção da fábrica de tintas, instalada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, estava quase esgotada.
Na época, foi cogitada a construção de uma nova fábrica, que demandaria milhões em investimento e dois anos para ficar pronta. A solução foi uma completa revisão dos processos internos, desde a escala de trabalho dos funcionários até a reforma na área de expedição dos produtos.
“Por meio de uma série de melhorias, nossa produtividade aumentou 50% e postergamos para 2017 a construção de uma nova fábrica”, afirma Antonio Carlos Lacerda, vice-presidente da Basf. Muitas vezes, esses ganhos são conseguidos por meio da obsessão por localizar oportunidades pouco óbvias.
O executivo Alexandre Zanelatto, diretor operacional da empresa de logística ALL, tem a identificação de gargalos como uma de suas principais missões. Ele e sua equipe revisam permanentemente os 400 deslocamentos diários feitos pelos trens da companhia, nos 4 000 cruzamentos de linhas, 450 pátios de manobra e 205 pontos de carregamento.
Em março de 2010, o time de operações da ALL encontrou uma brecha para melhoria e fez alterações no processo de descarga de mercadorias despachadas no porto de Santos. A mudança gerou uma diminuição do tempo total de chegada e saída dos trens de 47 para 40 horas — um sensível ganho de produtividade. Com isso, a capacidade de descarga de grãos em Santos foi elevada de 500 000 para 750 000 toneladas.
As experiências das empresas atestam que produtividade não é um fim em si mesmo. Elas podem ganhar eficiência com mudanças em processos, investimento em tecnologia ou qualificação da mão de obra. Mas, para uma nação se tornar produtiva, é preciso mais. A produtividade da economia como um todo depende também do grau de maturidade das instituições.
“Um país que pense em se tornar mais produtivo tem de começar pelo fortalecimento de suas instituições”, diz o economista Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Leis confusas e contraditórias são danosas aos investimentos e tornam o processo de fazer negócios mais caro e demorado.
Já regras de funcionamento claras, ancoradas por agências reguladoras e Justiça sólidas, criam um ambiente favorável a empreender, investir e inovar. Desse modo, a melhora das instituições fornece base para o aumento da produtividade, que, por sua vez, leva a uma nação mais rica.
O Brasil dos últimos anos tem avançado muito pouco — e às vezes até recuado — nesse sentido. Em anos recentes, compensamos esse problema incorporando mais gente à produção. Agora, precisamos acelerar o passo da produtividade — e, assim, do nosso desenvolvimento.
O trabalhador brasileiro em média gera um quinto da riqueza gerada pelo americano. Para se tornar uma nação rica, o Brasil precisa aprender a produzir com mais eficiência
Fabiane Stefano e Humberto Maia Júnior, de Exame
São Paulo - No início do século 20, o americano Henry Ford cunhou uma frase que continua presente nos manuais de gestão: “Há uma única regra para um industrial: faça produtos com a melhor qualidade possível, ao menor custo, pagando os salários mais altos que puder”.
Hoje óbvia, a lição de Ford foi tirada das experiências da primeira linha de montagem de carros, criada em 1913, em Highland Park, em Michigan. Nela, o operário passou a repetir a função de inserir as peças nos veículos, movidos numa esteira. O propósito dessa organização foi ganhar produtividade.
Cada empregado da Ford recebia 5 dólares ao dia — o dobro da média americana da época. No sistema fordista, um carro passou a ser montado em 98 minutos, com qualidade, preço baixo e volume de produção. O método, que exigia grande investimento em máquinas, foi amplamente copiado e transcendeu as fronteiras do setor automotivo e dos Estados Unidos.
Um século depois, a obsessão de Ford pelo aumento de produtividade de homens e máquinas continua a ser um mantra. Do chão de fábrica, ela migrou para a agricultura, para a construção e para os serviços — e ganhou a dimensão das nações. Hoje, a produtividade é vista como uma medida da eficiência no uso de fatores como o capital e o trabalho.
A capacidade de fazer mais com os recursos disponíveis se tornou também um atalho para o desenvolvimento. “A melhor maneira de um país enriquecer é conseguir que cada trabalhador produza mais”, diz o economista José Alexandre Scheinkman, professor da Universidade de Princeton.
A má notícia é que o Brasil, país de renda média que almeja ser rico um dia, emperrou nesse quesito. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a produtividade brasileira está estagnada há três décadas. Nos anos 80, ela encolheu 1,35% ao ano. Continuou a cair à média de quase 1% ao ano na década seguinte.
Nos anos 2000, avançou apenas 0,9% por ano, cifra insuficiente para zerar os tombos anteriores. O que está em jogo não é mais uma estatística mirrada, como tantas outras do Brasil. Trata-se da capacidade de o país continuar crescendo com vigor. O crescimento da economia na última década ocorreu graças à incorporação de milhões de pessoas ao mercado de trabalho e à forte demanda internacional por nossos produtos.
Tudo isso foi ótimo para o Brasil. Mas dificilmente esses fenômenos se repetirão daqui por diante. Ou seja, a fase fácil do crescimento acabou. Agora, o país vai precisar tirar mais de cada máquina e de cada trabalhador. Para reconquistar o brilho, precisamos — já — vencer a batalha da produtividade.
Ao longo da história econômica, os acadêmicos têm tentado entender o peso da produtividade no desenvolvimento das nações. Em 1776, o escocês Adam Smith já lançava os primeiros conceitos que envolviam a produtividade e a especialização da produção industrial. Smith dizia que, ao confeccionar alfinetes, mesmo um artesão habilidoso não conseguiria produzir mais que 20 peças por mês.
Já numa fábrica de alfinetes, o processo envolvia 18 etapas e dez funcionários, que, à medida que se especializavam, conferiam mais velocidade à tarefa e davam volume à produção. No início do século 19, em plena Revolução Industrial, as empresas têxteis de Lancashire, no norte da Inglaterra, provaram que trabalhadores capacitados e tecnologia resultavam em alta produtividade.
A Inglaterra tornou-se o grande fornecedor de têxteis no mundo — e outros setores industriais passaram a seguir o caminho da mecanização. O grande salto acadêmico, porém, veio só em 1950, quando o economista americano Robert Solow, ganhador do prêmio Nobel e considerado o papa do assunto, conseguiu computar os efeitos da produtividade na economia, provando assim seu potencial transformador.
Nas palavras de outro vencedor do Nobel, o economista Paul Krugman, “produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo”. Ou seja, ela é a chave para pavimentar a rota de um país para o enriquecimento.
Hoje, um trabalhador brasileiro gera perto de 22 000 dólares por ano de riqueza. O americano, cerca de 100 000 dólares. Ou seja, são necessários cinco brasileiros para produzir a mesma riqueza que um americano. A enorme diferença faz sentido. Afinal, os Estados Unidos investem seis vezes mais do que o Brasil.
A produtividade maior também gera uma recompensa: a renda per capita dos americanos é cinco vezes a nossa. Tudo está interligado. Isso não quer dizer, porém, que os brasileiros trabalhem pouco. Ao contrário, dedicamos mais horas ao trabalho do que a população da maioria dos países ricos, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho e da OCDE, o clube das economias desenvolvidas.
Mas horas de trabalho e resultado em termos de produção são coisas diferentes. Veja o exemplo da Alemanha. Entre os mais produtivos trabalhadores da Europa, os alemães enfrentam jornadas de, em média , 38 horas de trabalho semanal — ante 44 horas dos brasileiros — e desfrutam de 40 dias úteis de férias por ano, o que os coloca entre os recordistas europeus em folgas.
Mesmo com uma jornada menor, o trabalhador alemão é quatro vezes mais produtivo do que o brasileiro. “A questão está na qualidade do trabalho, e não na quantidade”, diz o economista Samuel Pessôa, da consultoria Reliance.
As lições de Estados Unidos e Alemanha mostram que a produtividade é uma síntese das escolhas das nações ao longo do tempo. Aquelas que investiram na educação, na infraestrutura e nas instituições fortes têm uma economia mais eficiente e, portanto, mais rica. No caso do Brasil, infelizmente, a baixa produtividade é o resultado de muitos fracassos.
O sofrível nível educacional é um deles. Os brasileiros têm, em média, 7,5 anos de escolaridade — ante 12 anos dos americanos. Aqui, apenas 11% da população tem diploma universitário — quase a mesma proporção de 30 anos atrás. E pior: só 35% dos alunos do ensino médio são plenamente alfabetizados — ou seja, têm condições de entender plenamente um manual.
Esses indicadores ruins da educação se refletem no campo do trabalho. Nas grandes empresas brasileiras, apenas 13% da força de trabalho tem formação superior — nas pequenas empresas a situação é ainda mais grave, 7%. Isso leva a um desdobramento igualmente grave: falta capacidade de inovação.
Em 2010, o Brasil registrou 22 681 pedidos de patentes — os Estados Unidos, quase meio milhão. Investimos apenas 1,2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, um terço do esforço japonês. Tudo isso explica a dificuldade das empresas brasileiras para atuar num ambiente cada vez mais tecnologicamente competitivo.
A fabricante de software Totvs, de São Paulo, que emprega 5 600 pessoas, acabou de abrir um escritório na cidade americana de Mountain View, no Vale do Silício — onde fica a sede do Google. A Totvs contratou lá 12 funcionários para realizar o desenvolvimento completo de software, algo que tem dificuldade aqui.
“Simplesmente não há gente para fazer isso no Brasil”, diz Laércio Cosentino, presidente da Totvs. Para piorar, um funcionário brasileiro leva até 120 dias para ser treinado. Nos Estados Unidos, isso é feito em 30 dias. “O americano já chega à empresa pronto”, diz Cosentino.
O fato é que a contribuição da produtividade ao crescimento econômico tem sido modesta no Brasil. Os surtos recentes de crescimento foram impulsionados basicamente por aumento de demanda. Quando o consumo estava em alta e a produção alcançava o limite, entrava em ação uma mão de obra ociosa que, ao primeiro sinal de desaceleração da economia, era descartada.
Isso fez com que a massa de desempregados atuasse como um colchão para amortecer os altos e baixos da atividade econômica. Na última década, a situação mudou. A economia brasileira cresceu 40% e absorveu boa parte do estoque de trabalhadores antes alijados do mercado.
No período de 2003 a 2011, a taxa de desemprego caiu de 12% para 6%. Tratou-se, obviamente, de uma excepcional notícia para o país. Num cenário de quase pleno emprego, porém, a competição entre as empresas pelos mais capacitados se acirra.
“Quando os aumentos salariais não são acompanhados de elevação de produtividade, isso significa que as margens das empresas estão sendo corroídas”, diz o economista Fabio Giambiagi, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A consequência disso: menos lucro, menos capacidade de competir e menos fôlego para fazer investimentos.
Ritmo chinês
Um estudo inédito da consultoria Boston Consulting Group mostra que mais de 70% do crescimento brasileiro na última década foi resultado justamente da incorporação de mão de obra ao mercado de trabalho. Nos 3,7% de expansão média do PIB de 2001 a 2011, o aumento do nível de emprego e a expansão da população ativa responderam por 2,7 pontos.
A produtividade somou apenas 1 ponto percentual à média. Enquanto isso, em outros grandes emergentes, o avanço do PIB veio principalmente do aumento de produtividade — no caso da China, ela respondeu por 93% da taxa de crescimento econômico da última década.
Cada trabalhador chinês gera uma riqueza de quase 9 000 dólares por ano — ainda menos da metade da dos brasileiros. No entanto, a produtividade chinesa vem crescendo à taxa de 9% ao ano. Se os dois países continuarem no mesmo ritmo, os chineses deverão ultrapassar os brasileiros em riqueza adicionada em 2024.
Ou seja, daqui para a frente, o ritmo de crescimento econômico no Brasil vai ser ditado pelo que ocorrer na produtividade. Apenas para manter a média de expansão do PIB dos últimos dez anos, será necessário duplicar o crescimento da produtividade para 3%.
Uma das razões da estagnação da produtividade nas últimas décadas é o baixo investimento. Em 1990, para cada brasileiro empregado havia um estoque de equipamentos de 41 000 dólares. Em 2010, a correlação permanecia praticamente a mesma.
No mesmo período, os Estados Unidos elevaram o estoque de equipamento por empregado de 169 000 para 245 000 dólares, ampliando uma diferença de capital investido que já era grande em relação ao Brasil.
A construção civil é um dos setores que ainda apresentam baixa mecanização. As casas e os prédios residenciais brasileiros são erguidos de maneira quase artesanal. “Usar tijolo e argamassa para assentar paredes é um método fora de uso em países desenvolvidos”, diz Alessandro Vedrossi, diretor executivo da construtora Brookfield.
Enquanto no Brasil dois funcionários constroem 17 metros quadrados por dia no sistema de alvenaria, nos Estados Unidos uma dupla de operários levanta de 40 a 50 metros quadrados por dia com material pré-moldado. Isso reduz dramaticamente o tempo de execução. “Se aqui um empreendimento com duas torres de 35 andares exige até 1 500 trabalhadores e leva 42 meses para ficar pronto, os americanos erguem uma obra dessa magnitude em 30 meses e com metade dos funcionários”, diz Vedrossi.
O baixo nível de investimento é resultado também de uma iniciativa privada extremamente pulverizada. Dos cerca de 5 milhões de empresas existentes no Brasil, 90% têm menos de dez funcionários. Nos Estados Unidos, as microempresas representam 54% do total.
Quanto menor o porte da empresa, maior a dificuldade em levantar capital e adquirir tecnologias — pelo menos no Brasil. Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostra que as pequenas empresas precisam de quatro vezes mais capital e trabalho para gerar a mesma quantidade de produção que as grandes companhias.
“O Brasil é deficiente em todos os fatores importantes para a produtividade, como inovação, educação e infraestrutura”, diz Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. “Não fazemos nada do que o manual recomenda para sermos mais produtivos. O resultado está dado.”
Um exemplo disso está no arcabouço legal. As cerca de 180 000 leis em vigor no país e a complexidade de lidar com elas no dia a dia impõem uma burocracia infernal na vida das empresas. O grupo mineiro Tracbel, de revenda de tratores, precisa manter 23 pontos de reposição de peças em dez estados e em Brasília.
Ter tantas filiais não é um indicativo de pujança da empresa, que fatura 900 milhões de reais por ano. É, sim, uma estratégia para se defender de custos extras causados pela insanidade das regras tributárias — e que, ao final, drenam parte de sua produtividade. Uma peça de reposição é onerada em 35% caso ela saia do depósito central da Tracbel, em Sumaré, no interior paulista, com destino ao Rio de Janeiro, por exemplo.
As unidades espalhadas pelo país, com estoques próprios, são o jeito de evitar a mordida fiscal. “Se não fosse pela burocracia, poderíamos ter apenas três almoxarifados”, diz Adriano Merigli, presidente da Tracbel. Manter a atual estrutura custa caro: são gastos 10 milhões de reais por ano com os depósitos.
Há 43 funcionários nas filiais, 18 deles só para cuidar da parte tributária — ou seja, que nada acrescentam de produtivo ao negócio. “Há pouco tempo visitei uma revendedora do mesmo porte que o nosso na Noruega”, diz Merigli. “Lá, três pessoas fazem o mesmo trabalho que as 18 que preciso manter aqui.”
Qualquer tentativa de ampliar a produtividade no Brasil também esbarra na rigidez das leis trabalhistas — algo que, felizmente, parece estar entrando no rol das preocupações da presidente Dilma Rousseff. Um dos defeitos dessa legislação é tratar de forma linear os diferentes setores da economia.
Criada em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho não contempla, por exemplo, a sazonalidade típica de algumas atividades nem leva em conta os altos e baixos da economia. A fabricante de autopeças Bosch conhece bem as dificuldades de operar num ambiente com pouca flexibilidade.
Em maio, antes de o governo reduzir o imposto dos carros para incentivar o consumo, as vendas do setor automotivo estavam em queda e isso refletia diretamente na produção da Bosch. Com menos produção, mas com o mesmo efetivo, a produtividade da empresa alemã no Brasil caiu 20% — situação que se repete sempre que seus clientes diminuem as encomendas.
“Se a lei permitisse a diminuição da jornada com redução salarial, o número de horas trabalhadas por funcionário seria suficiente para atender à demanda e a produtividade se manteria”, diz Besaliel Botelho, presidente da Bosch.
Ilhas de excelência
Um dos raros setores no Brasil que têm conseguido romper a barreira da inércia na produtividade é a agricultura. Resultado do melhoramento genético de sementes e da adoção de máquinas no campo, uma parte da agricultura nacional deu um salto de eficiência.
Nas últimas quatro décadas, a produtividade agrícola tem avançado, em média, 3% ao ano. O melhor exemplo dessa transformação ocorreu nas lavouras de soja. No início dos anos 70, 1 hectare produzia cerca de 1 400 quilos do grão — a mesma quantidade extraída da terra nos anos 30.
Em 2011, o Brasil alcançou o topo da produtividade mundial de soja e colheu, em média, 3 115 quilos por hectare plantado. A alta produtividade do cultivo de soja, porém, não é regra no país. Ao contrário. Estima-se que apenas 20% dos produtores rurais brasileiros operem com produtividade considerada média ou alta — resumindo a elite do campo a menos de 1 milhão de agricultores.
Isso explica por que, apesar dos avanços consistentes e contínuos em produtividade, cada trabalhador da agricultura gera por ano 12 000 reais em riqueza, o equivalente a um quarto da média do setor industrial.
O hiato de produtividade entre a elite da agricultura e o produtor comum se repete também na indústria e nos serviços. Nesse setores também convivem empresas operando no estado da arte com outras que produzem de forma rudimentar. “Diante do aumento dos custos com mão de obra e da redução das taxas de juro no Brasil, as empresas deveriam aumentar seus investimentos em automação para elevar os ganhos de produtividade”, diz Júlio Bezerra, sócio da consultoria BCG.
É essa receita que vem sendo adotada por empresas que já fazem parte das ilhas de excelência da indústria. A Alpargatas, por exemplo, está destinando 177 milhões de reais à construção de uma nova fábrica na cidade mineira de Montes Claros, que foi concebida para dobrar a produtividade da linha de produção de sandálias.
Um executivo da empresa ficou dedicado durante um ano à pesquisa de soluções para acelerar o processo produtivo, visitando fornecedores de equipamentos em cinco países. Até a arquitetura da fábrica foi repensada. “Hoje, levamos 13 horas para produzir um par de Havaianas”, diz Márcio Utsch, presidente da Alpargatas. “Na nova fábrica, o tempo cairá para 7 horas.”
Buscar saídas para tornar a produção mais eficiente é um objetivo que está na mira da elite corporativa. Uma pesquisa realizada por EXAME com 113 empresas da lista das 1 000 maiores do país mostra que mais da metade delas investiu, no último ano, em melhoria de processos e gestão para elevar a produtividade — estratégia que deverá ser repetida nos próximos 12 meses por 60% delas.
Ou seja, boa parte das companhias pretende tirar mais do mesmo antes de investir em máquinas ou em expansão da capacidade. Foi isso o que a multinacional alemã Basf fez em 2010. A capacidade de produção da fábrica de tintas, instalada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, estava quase esgotada.
Na época, foi cogitada a construção de uma nova fábrica, que demandaria milhões em investimento e dois anos para ficar pronta. A solução foi uma completa revisão dos processos internos, desde a escala de trabalho dos funcionários até a reforma na área de expedição dos produtos.
“Por meio de uma série de melhorias, nossa produtividade aumentou 50% e postergamos para 2017 a construção de uma nova fábrica”, afirma Antonio Carlos Lacerda, vice-presidente da Basf. Muitas vezes, esses ganhos são conseguidos por meio da obsessão por localizar oportunidades pouco óbvias.
O executivo Alexandre Zanelatto, diretor operacional da empresa de logística ALL, tem a identificação de gargalos como uma de suas principais missões. Ele e sua equipe revisam permanentemente os 400 deslocamentos diários feitos pelos trens da companhia, nos 4 000 cruzamentos de linhas, 450 pátios de manobra e 205 pontos de carregamento.
Em março de 2010, o time de operações da ALL encontrou uma brecha para melhoria e fez alterações no processo de descarga de mercadorias despachadas no porto de Santos. A mudança gerou uma diminuição do tempo total de chegada e saída dos trens de 47 para 40 horas — um sensível ganho de produtividade. Com isso, a capacidade de descarga de grãos em Santos foi elevada de 500 000 para 750 000 toneladas.
As experiências das empresas atestam que produtividade não é um fim em si mesmo. Elas podem ganhar eficiência com mudanças em processos, investimento em tecnologia ou qualificação da mão de obra. Mas, para uma nação se tornar produtiva, é preciso mais. A produtividade da economia como um todo depende também do grau de maturidade das instituições.
“Um país que pense em se tornar mais produtivo tem de começar pelo fortalecimento de suas instituições”, diz o economista Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Leis confusas e contraditórias são danosas aos investimentos e tornam o processo de fazer negócios mais caro e demorado.
Já regras de funcionamento claras, ancoradas por agências reguladoras e Justiça sólidas, criam um ambiente favorável a empreender, investir e inovar. Desse modo, a melhora das instituições fornece base para o aumento da produtividade, que, por sua vez, leva a uma nação mais rica.
O Brasil dos últimos anos tem avançado muito pouco — e às vezes até recuado — nesse sentido. Em anos recentes, compensamos esse problema incorporando mais gente à produção. Agora, precisamos acelerar o passo da produtividade — e, assim, do nosso desenvolvimento.
Obrigado por comentar!
Erro!