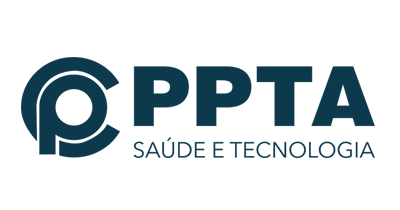Há tempos estamos vendo notícias sobre os péssimos resultados apresentados nos balanços das operadoras privadas de saúde e as consequências deste cenário no dia a dia do consumidor, que fica de mãos atadas ao não ter o serviço realizado de maneira correta, justamente no momento em que mais precisa.
Muitos atribuem estes prejuízos exclusivamente a questões relacionadas ao sistema de saúde em si, tais quais os altos custos da medicina e da tecnologia nela empregada, as fraudes cometidas pelos beneficiários, os abusos dos prestadores hospitalares
A sinistralidade que representa os gastos das operadoras fechou o último semestre em 87,9% e com enorme viés de alta para o fechamento do ano. Mesmo com o crescimento no número de segurados (chegamos a quase 51 milhões de beneficiários em planos coletivos, por adesão, corporativos e individuais) é notório que a idade média do cliente deste segmento vem aumentando ano a ano. A carteira vem, portanto, “envelhecendo” de forma constante e isso claramente irá afetar os índices de sinistros que já estão no limite máximo suportável.
Resultado disso é que as operadoras passaram a pecar na qualidade do serviço de atendimento ao consumidor de forma geral: dilataram os prazos de pagamento aos clientes, fornecedores e hospitais, triplicaram o volume de glosas nas contas médicas, descredenciaram diversos credenciados e começaram a procurar “pelo em ovo” em todo e qualquer reembolso solicitado pelos segurados.
O cliente já não consegue falar nas operadoras pois as centrais de atendimento simplesmente não funcionam como deveriam. Neste sentido, o Brasil é o único país do mundo onde o Estado, incompetente em seu dever constitucional de oferecer saúde pública de qualidade a toda a população, obriga a iniciativa privada a fornecer cobertura ampla e irrestrita aos cidadãos de forma a compensar a deficiência instalada por anos em malfeitos governamentais.
A Lei nº 9656 de 1998, editada então pelo Ministro da Saúde, José Serra, regulamenta os planos de saúde há 25 anos e foi criada originalmente para trazer garantias reais ao consumidor de assistência médica, trazendo expectativa de uniformidade e de regras para este mercado. O conceito na época fazia todo o sentido pois o setor era confuso e mal vigiado. Mas, com o passar dos anos, essa legislação tornou-se uma enorme e pesada âncora que hoje afunda a saúde suplementar no país.
De acordo com a Lei, todas as operadoras são obrigadas a cobrir os procedimentos constantes do ROL da Agência Nacional de Saúde (ANS) e, em cima disso, os atuários buscam precificar os riscos de maneira com que a tarifa cobrada do consumidor - pessoa física ou jurídica - consiga manter o equilíbrio econômico da operação. As receitas teoricamente teriam de suportar a sinistralidade dos beneficiários e os custos operacionais das seguradoras.
Em tese, isso é justo. Mas, na prática, a realidade é assustadoramente outra e explico porquê: em qualquer país do mundo subscrever riscos envolve conhecimento estatístico e dimensionamento das responsabilidades do Tomador. Há de se conhecer a perda máxima esperada em toda a carteira de negócios e definir um teto máximo para a absorção destes riscos. Tem de haver um limite máximo segurado na apólice, tal qual em um seguro de automóvel, de uma indústria, etc.
Operadoras de planos de saúde precisam saber exatamente o que vão cobrir no contrato para poder mensurar o preço correto e equilibrado em cada apólice vendida. No Brasil não é assim. Aqui, o governo (e diga-se também o Congresso Nacional) manda a operadora bancar todo e qualquer evento, reconhecer sem análise novos tratamentos, medicamentos e tecnologias e, pior de tudo: sem limitação no pagamento destas obrigações.
Por fim, vale pontuar que o plano de saúde se torna um cheque em branco, nota promissória sem valor definido e, quando as partes não se entendem, o Judiciário manda pagar tudo aquilo que não estava previsto em contrato. O cargo se entrelaça em novas estruturas, onde um juiz faz papel de médico, cientista, psicólogo e tudo mais.
Obrigado por comentar!