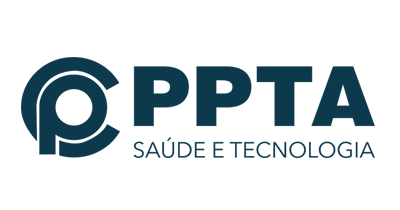Temos acompanhado notícias recentes sobre as dificuldades em que os planos de saúde e os demais players do setor estão sofrendo, muito devido ao aumento de sinistralidade e o consequente aumento de taxas assistenciais, que tem causado muitos impactos operacionais.
Além de (já recorrente) crescimento em taxas assistenciais, os planos de saúde têm lançado mão de outras iniciativas, como a revisão/limitação da rede credenciada, forças-tarefa mais criteriosas em cima de processos de reembolso, consumo fraudulento de serviços, entre outros.
Uma tese há muito falada, preconizada pelo SUS e operacionalizada por algumas startups de saúde, é a de estruturar o atendimento em camadas. Neste caso, uma estrutura primária de atenção faz o primeiro atendimento (atenção primária) e o direciona adequadamente a níveis secundários e posteriores (consequentemente mais custosos) de acordo com necessidade e avaliação clínica. O diferencial desse modelo é que boa parte dos atendimentos se encerram com qualidade na atenção primária, fornecida por clínicos gerais e estruturas de médicos de família, com tratamentos adequados para boa parte das necessidades.
Um ótimo exemplo disso acontece quando temos alguma dor localizada, como por exemplo estômago ou cabeça. Ao utilizar a estrutura de atenção primária, o clínico geral ou médico da família entende o problema, direciona ações adequadas e, apenas em caso de real necessidade, encaminha para especialistas (gastroenterologista, neurologista, etc.). Ao passo que, quando possuímos um plano de saúde, costumamos já buscar na rede credenciada um especialista apenas por “associação” do local da dor, o que encarece o processo.
Chegamos, então, ao questionamento: mas o que isso tudo tem a ver com a interoperabilidade?
Quando se olha uma boa parte da sinistralidade, constata-se que são exames e procedimentos desnecessários realizados pelos pacientes. Veja outro exemplo: neste mês, um médico faz uma série de exames e dá um diagnóstico, receitando o tratamento. Daqui dois meses, o paciente tem algum novo problema, consulta outro médico por ser uma especialidade diferente que, por sua vez, solicita boa parte dos exames novamente. A questão é: há situações em que um exame anterior indicaria claramente uma hipótese. Até mesmo um histórico poderia indicar uma tendência. Ou seja, o próprio atendimento “diretamente com o especialista” pode ter sido mais custoso que o necessário, uma vez que clínico geral poderia ter endereçado.
A aplicação da interoperabilidade auxiliaria no endereçamento do histórico, “preparação” de informações estruturadas (uso de tecnologia) e uma visão mais clara dos pacientes, independentemente do profissional que o atende. Isso sem considerar as possibilidades de melhoria na gestão dos custos, como fluxo de aprovação de procedimentos, reembolsos, etc., facilitando assim a identificação de potenciais fraudes e as diferenciando daquelas situações realmente necessárias.
Vemos que muitas empresas do segmento já executaram algumas ações sobre o tema Transformação Digital buscando iniciar essa jornada que culmina na interoperabilidade, mas muitas acabam por se frustrar no caminho, seja por “informatizar a burocracia”, colocando “dentro do computador” processos morosos e complexos da mesma maneira com que são feitos manualmente, ou seja, uma burocracia digital; seja por buscarem um cenário de “revolução digital”, preconizando uma transformação massiva no parque tecnológico para apenas então se entenderem habilitados a começar algum tipo de jornada no assunto.
É preciso entender que é possível iniciar a jornada e, principalmente, capturar benefícios sem obrigatoriamente necessitar dessa “revolução”. Pensando em trazer sempre evoluções à operação, vale aportar tecnologias específicas e viáveis a cada nível de maturidade de operação das empresas, de maneira incremental/anexa, sem necessariamente trocar sistemas para obter esse benefício.
Obrigado por comentar!