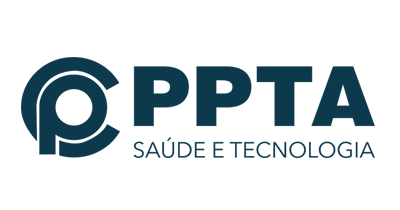Até 2010, a qualidade de atendimento dos planos de saúde era avaliada pela quantidade de hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais que prestavam serviços aos beneficiários. Quanto maior a rede, melhor a qualidade.
Nessa época, a Lei dos Planos de Saúde (LPS) completava dez anos e os agentes reguladores do setor amadureciam com a experiência de uma insatisfação crescente dos consumidores da saúde. Mesmo operadoras com vasta oferta de profissionais não necessariamente contentavam seus clientes.
Foi então que os técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) entenderam que o critério de avaliação merecia reparos, e daí originaram a Resolução Normativa 259, de junho de 2011 [1]. Através dela, instituiu-se prazos máximos para autorização das prescrições médicas e um monitoramento da qualidade assistencial dos planos pelo tempo de atendimento. Um sucesso, até hoje, quando se anuncia a suspensão de comercialização dos maus classificados.
Dois meses depois daquela mudança estruturante, a Diretoria de Desenvolvimento Setorial (Dides) da ANS construiu a Resolução Normativa 267 [2], que tentava implantar um programa de qualificação da rede assistencial: o Qualiss. Ora, a regulação do setor não estaria completa se não fosse avaliado tanto o tempo de autorização do plano, como a boa entrega dos serviços médico-hospitalares.
Além de disruptiva, a iniciativa da Dides era corajosa. A uma, porque se dispunha a regular a atividade do prestador, mesmo sem que essa competência esteja clara e expressamente indicada na LPS (até hoje); a duas, em vista da premissa normativa utilizada, que foi medir qualidade através da divulgação à sociedade dos atributos dos profissionais e instituições de saúde — ou seja, a exposição gerava a força da informação.
Uma pena que, no meu ponto de vista, o Qualiss não emplacou. Inclusive, foi completamente remodelado em 2016 [3] e continuou sem ter potência suficiente para dizer se a rede assistencial de um plano é boa ou ruim.
Aqui, é interessante anotar que as iniciativas de controle de qualidade assistencial jamais diferenciaram a rede verticalizada, face à incipiente experiência fiscalizatória com ela. O regulador ancorava-se no conceito genérico e superficial dos artigos originais da Lei 9.656/98:
"Artigo 17 — A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.
Artigo 18 — A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de saúde, da condição de contratado, referenciado, credenciado ou cooperado de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei implica as seguintes obrigações e direitos:
I — o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela dispensada aos clientes vinculados a outra operadora ou plano;
II — a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade, as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos;
III — a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva, impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional".
A partir desse ponto, devemos enfrentar duas questões intrigantes: 1) pelo texto da lei, a ANS pode impor regras e multas a médicos e entidades de saúde?; 2) pode fazê-lo em relação à rede verticalizada, já que são de propriedade de atores efetivamente regulados?
Quanto à primeira indagação, a agência sustenta veementemente que não está autorizada por lei a fazê-lo. Há quem discorde, uma vez que o diploma de criação da autarquia (Lei 9.961/2000) lhe confere o poder de fiscalizar o cumprimento da Lei 9.656/98, com a prerrogativa de punir qualquer um que a descumpra. Mas essa é uma discussão jurídica com argumentos de lado a lado. O melhor seria clarear o texto legal.
Vale lembrar que similar assunto já esteve em vitrine quando se discutiu a abertura dos serviços de saúde ao capital estrangeiro. A controvérsia foi rapidamente resolvida pela Lei nº 13.097/15, dando clareza à matéria.
Então, diante da necessidade de regulação da rede assistencial, qual a dificuldade de se promover incremento legislativo federal com o objetivo de dirimir essa dúvida, definindo finalmente o poder da ANS para impor regras aos prestadores ou empoderando outra autoridade para esse fim?
Logicamente, a criação de uma ou outra comissão hospitalar não resolve o assunto. A regulação carece de completude, devendo ser aplicável ao funcionamento de todos os prestadores e não apenas aos verticais.
De toda forma, foi em meio ainda a essa dúvida, sobre seu efetivo poder de polícia junto aos prestadores assistenciais, que a ANS teve de enfrentar as controvérsias a respeito da pandemia do Sars-CoV-2, a cloroquina, a Prevent Senior e a CPI. Defende-se sempre com o escudo da falta de competência legal para fiscalizar hospitais.
Quanto à verticalização dos planos de saúde, trata-se de evolução de um modelo setorial. A lei de 1998 conhecia bem a rede referência das seguradoras, a credenciada e até a cooperada. Mas operadora proprietária de hospital não era tão comum.
Com efeito, já tive oportunidade de comentar, em anterior artigo [4], que a verticalização não é vedada. E nem deve ser prematuramente tolhida, pois pode constituir instrumento de eficiência econômica, a permitir menores mensalidades aos consumidores. Mas sustento, todavia, que esse modelo ainda reclama experiência regulatória capaz de permitir receber a atenção normativa que merece. Em 1998 não havia, apesar da Lei 9.961/2000 prevê-lo, sim.
Portanto, apesar de compreender os que pensam frustrados os artigos 17 e 18 da LPS (que não foram capazes de enquadrar os prestadores médico-hospitalares como submissos ao poder de polícia da ANS), creio que a situação quanto à rede verticalizada é diferente. E, assim, respondo objetivamente a questão dois, suscitada anteriormente: o regulador já tem plenos poderes para exercer fiscalização direta e ostensiva sobre esse tipo de serviço vertical.
Está claro que uma rede assistencial de propriedade, direta ou indireta, de uma operadora de saúde, submete-se aos ditames da ANS, uma vez que não poderá o regulador esquivar-se do poder de polícia que detém sobre o controlador dos serviços, podendo-lhe exigir qualidade nessa cadeia própria. Também os Conselhos de Medicina e as agências sanitárias, nas suas respectivas competências, devem atuar.
Então, o que falta para o rigor? Óbvio: um sistema de fiscalização com braços eficazes, em todos os órgãos citados. Isso depende de mais recursos humanos e financeiros, está em debate e certamente será acelerado. Esperemos.
Obrigado por comentar!