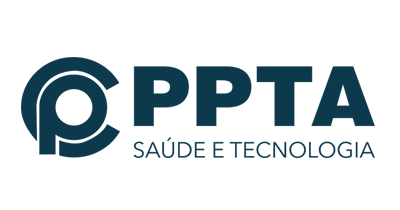Bourla, para ser justo, tem muito a comemorar. O único motivo pelo que qual estamos podendo almoçar neste movimentado restaurante grego em Hudson Yards, em Nova York, é que ambos tomamos as duas doses da vacina de sua empresa. Desenvolvida com a alemã BioNTech, a vacina é a mais bem-sucedida no mundo: primeira a ser autorizada pelas autoridades reguladoras dos Estados Unidos, tem uma eficácia de 95% contra a cepa original do vírus, a maior entre todas as vacinas. A Pfizer vendeu mais doses do que qualquer outra empresa ocidental, 1,2 bilhão e contando.
Enquanto vislumbramos a ampla vista do rio Hudson, Bourla relembra o momento em que soube da novidade. Ele estava em uma reunião virtual via Zoom com o diretor jurídico da Pfizer e dois especialistas em estatística. “Ouvi 95% e não acreditei, achei que não tinha ouvido bem.”
Conheço Bourla desde 2014, quando cobria a indústria farmacêutica para o “Financial Times” e ele comandava as áreas de vacinas, câncer e bens de consumo da Pfizer. Ele mudou pouco nesses anos, ainda que as rugas no rosto estejam levemente mais profundas. Na mão esquerda, ele usa um anel de sinete, de ouro, com um capacete grego entalhado em uma pedra negra. “Era de meu pai. Não sei como ele o conseguiu, mas ele achava que era legal. E, quando ele morreu, eu o peguei.”
Se não fosse a vacina da Pfizer, que assim como a da Moderna usa a tecnologia de RNA mensageiro, o fim da pandemia estaria muito mais distante. Outras empresas, como a AstraZeneca e a Johnson & Johnson, usaram tecnologias mais tradicionais para criar as vacinas, mas elas têm eficácia substancialmente menor que as da Pfizer e da Moderna.
“Se o RNAm tivesse falhado, acho que estaríamos numa situação muito, muito difícil neste momento”, diz. “Precisaríamos vacinar bem mais pessoas para ter o mesmo resultado, em muitos casos, 40% a 50% mais.” Recentemente, a Pfizer projetou que as vendas de sua vacina chegarão a quase US$ 34 bilhões neste ano, um aumento em torno de 30% em comparação à estimativa de apenas três meses atrás. Isso reflete, em parte, uma crescente preferência das autoridades mundiais de saúde pública pelas vacinas do tipo RNAm, que são melhores no combate a novas cepas.
Ainda assim, o que deveria ter sido um sucesso irretocável para a Pfizer acabou chegando acompanhado de uma ferroada. A fatídica teleconferência pelo Zoom ocorreu no dia 8 de novembro, apenas poucas horas depois de as redes de TV dos Estados Unidos terem declarado Joe Biden vencedor da eleição presidencial. Aliados de Donald Trump disseram que houve uma grande conspiração entre as elites democratas e a Pfizer, que acusam de ter segurado a notícia até depois da eleição para prejudicar suas perspectivas de um segundo mandato.
Bourla diz ter ficado desapontado pelo furor, para não dizer surpreso. Durante os estágios finais da campanha, enquanto Trump acusava a empresa de fazer corpo mole, Bourla escreveu um memorando a seus funcionários instruindo-os a continuar trabalhando na “velocidade da ciência”. “Não era apenas a vacina. As máscaras viraram uma declaração. Se você estava usando uma, devia ser democrata. Se não estava, republicano. Uma maluquice.”
A Pfizer não é alheia a polêmicas políticas. Quando a empresa tentou, sem sucesso, comprar a britânica AstraZeneca em 2014, foi tachada como uma desmembradora de ativos, que compra empresas para depois retalhar suas operações. Uma tentativa posterior para reduzir suas despesas tributárias por meio da compra da Allergan, fabricante do Botox, e da transferência de sua sede para a Irlanda foi vetada pelo governo Obama.
E, quando o “FT” revelou em 2018 que havia elevado o preço de cem produtos pela segunda vez no ano, Trump disse que a empresa deveria sentir-se “envergonhada” por “aproveitar-se dos pobres”. Bourla diz que a pandemia deu a seu setor um “palco” para demonstrar que eles não são tão maus assim no fim das contas, mas faz um alerta: “Nunca devemos dar isso como garantido. Isso pode mudar muito rápido”.
Trump ligou para ele “umas três vezes” durante a campanha. “Eles tinham o número de meu celular. Algumas vezes chamavam avisando antes, outras, apenas diziam: ‘O presidente quer falar com você’.”
Pergunto o que a dupla discutiu. Ele escolhe as palavras com cuidado. “Ele deixou muito claro [...] que queria [a vacina] antes de outubro, antes das eleições - ele disse ‘mais rápido é melhor, por que pessoas morrerão’.” Ele insiste, contudo, que Trump não tentou pressioná-lo a acelerar o andamento. “Ele nunca me pressionou. Nunca. Mas eu sabia o quanto ele queria isso. E eu sabia que [a vacina] chegaria no seu próprio tempo.”
Bourla diz que ele esperava isolar a empresa de ataques políticos, recusando a oferta de bilhões de dólares em financiamento do governo americano para desenvolver a vacina. No caso da Pfizer, se a vacina tivesse sido um fracasso, teria sido a empresa, não o Estado, quem arcaria com o custo.
Bourla disse a seu conselho de administração que se tivessem perdido a corrida pela vacina eles teriam que arcar com mais do que apenas uma baixa contábil. “O mundo teria entrado numa recessão como nos velhos tempos, de volta ao século XVII”, diz, referindo-se ao que ficou conhecido como a Crise Geral, na Europa Ocidental. “Em crises como essa, o que é colocado à prova não é apenas a economia. Tudo desmorona. Quantos divórcios haveria? Quantos suicídios? Então, teríamos problemas bem maiores do que perder US$ 2 bilhões.”
Pergunto se ele acha que a pandemia terá um fim. “Para o mundo desenvolvido [...] isso mudará, esperançosamente, até o fim do ano. A única incógnita é se eles vão conseguir vacinar cidadãos o suficiente, não por [falta de] disponibilidade, mas por hesitação. Podemos enfrentar uma situação ruim se tivermos pessoas não vacinadas.”
A hesitação em tomar a vacina tornou-se uma linha de divisão política nos EUA, onde os índices de aplicação nos estados republicanos “vermelhos” continuam teimosamente baixos. Bourla tem pouca paciência com a Rússia, que ele acusa de arquitetar o esforço on-line para disseminar informações falsas. “Recebemos muitas vezes informações do Departamento de Estado [dos EUA] que nos dizia: ‘Estamos vendo que a Rússia está atacando vocês para tentar desacreditar sua vacina’.” Essas teorias da conspiração vêm “prosperando mais, digamos, no lado republicano”, acrescenta.
Por outro lado, no que se refere às pessoas que são antivacina, ele é cuidadoso. “O pior que você pode fazer [ao lidar] com essas pessoas - e há muitas delas - é dizer: ‘Você não é humano, você não sabe que está colocando todos os demais em perigo?’”, diz ele. “E quanto a persuadi-los?”, pergunto. Por exemplo, exigir a vacinação como pré-condição para viajar de avião? “Tenho, é claro, opiniões pessoais a respeito, mas tento manter-me afastado disso. É muito fácil achar que temos interesses. Mais pessoas sendo vacinadas significa mais vacinas sendo vendidas.”
Menciono uma recente notícia no “FT” sobre como algumas pessoas brindam “saúde” nos bares de Tel Aviv, exclamando “à Pfizer, l’chaim”. “Ouvi falar disso”, diz Bourla, não escondendo o orgulho.
A popularidade da Pfizer em Israel decorre do acordo feito por Bourla com o então primeiro-ministro Binyamin Netanyahu. A empresa garantiu fornecimento suficiente para vacinar toda a população em troca de dados clínicos do desempenho da vacina no mundo real. Desde então, Israel se tornou uma espécie de estrela-guia, não apenas para a Pfizer, mas também para autoridades de saúde pública do mundo inteiro. Os dados do Ministério da Saúde do país indicam que a eficácia da vacina diminui com o passar do tempo, o que reforça o argumento a favor de uma terceira dose, de “reforço”.
O que fez ele se decidir por Israel? O país tinha uma população pequena, com bons sistemas de coleta de dados, diz. A Grécia foi uma opção, mas seu armazenamento de registros médicos não era apropriado. Ele também considerou a Suécia, mas temeu descontentar outros países da União Europeia.
“O principal a ter ficado claro foi que Bibi [Netanyahu] estava por dentro de tudo, ele sabia de tudo”, diz Bourla. “Ele me ligou 30 vezes, perguntando: ‘E quanto aos jovens? [...] O que vocês estão fazendo sobre a variante sul-africana?’. Tenho certeza de que ele estava fazendo isso por sua população, mas também estou certo de que ele pensava: ‘Isso poderia me ajudar politicamente’.” Isso acabou sendo um erro de cálculo, sugiro, tendo em vista que Netanyahu perdeu o poder. “Talvez”, diz Bourla. “Mas ele se saiu muito bem.”
Os altos preços cobrados, em especial nos EUA, são o calcanhar de aquiles dos grandes laboratórios farmacêuticos; o setor é criticado regularmente por cobrar demasiado caro e por valer-se de suas patentes para desencorajar alternativas de baixo custo.
Quando Bourla juntou-se a Joe Biden na reunião do G7, na Cornuália, neste verão europeu, a mostra de cordialidade entre eles camuflou o fato de que semanas antes o presidente havia manifestado apoio aos esforços para que as empresas farmacêuticas suspendessem suas patentes relacionadas à covid-19. Bourla, que fez lobby contra a decisão, diz ter sofrido do que ele chama de uma tentativa de Biden para desviar as críticas internacionais direcionadas aos EUA por não compartilhar doses suficientes.
Ele insiste que a falta de ingredientes, e não as patentes, são o principal obstáculo para a oferta de vacinas e diz que a Pfizer “é a máquina mais eficiente para converter matérias-primas em doses”. Se as patentes acabarem sendo suspensas, Bourla prevê que ingredientes “começarão a ficar parados em armazéns na África do Sul ou Índia ou China”, onde técnicos “esgotariam a esperança de conseguir quebrar o código para fazer uma dose”. Quanto ao preço dos remédios, ele diz estar disposto a fazer uma grande negociação com os parlamentares desde que a economia obtida seja usada para diminuir a conta dos pacientes, e não o dinheiro gasto pelo governo em programas públicos de assistência médica. “Estamos prontos para chegar a um acordo com qualquer um”, diz, incluindo democratas progressistas como Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. “O problema é que muitos deles apenas querem atingir a indústria farmacêutica e, então, o dinheiro se esvai no buraco negro do orçamento federal. Vamos resistir contra isso.”
A ascensão de Bourla ao cargo máximo na Pfizer começou há quase 30 anos, quando ele entrou para a unidade de saúde animal da empresa. Ele era um pesquisador veterinário na Universidade Aristóteles, em Salônica, na Grécia, onde concluiu sua tese de doutorado sobre fertilização in vitro em ovelhas e cabras. Ele foi recrutado pela Pfizer e aceitou o cargo como um tapa-buraco para esperar até que fosse aberta uma vaga a um posto acadêmico permanente. Acabou permanecendo toda a carreira na empresa, que o levou a cargos em Atenas, Varsóvia, Bruxelas, Paris e Nova York.
Desde que se tornou presidente, em 2019, Bourla transformou a empresa, separando-a da divisão bens de consumo ligados à saúde e de uma unidade que produzia medicamentos mais antigos, já sem patente. Agora, a empresa terá sucesso, ou não, dependendo de sua capacidade de encontrar novos tratamentos para doenças graves, uma estratégia de alto risco, em vista do histórico inconstante dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento das grandes farmacêuticas. “Claramente, há riscos mais altos e recompensas mais altas”, diz Bourla. “Mas, se eu achasse que a pesquisa e desenvolvimento estava deixando a desejar, não teria feito essa aposta. Não sou suicida.” (Tradução de Sabino Ahumada)
Obrigado por comentar!